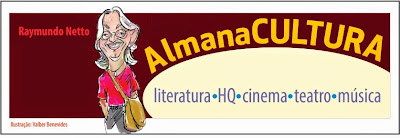Aprendi sobre amor e o amar com minhas
filhas. O mais interessante é que elas nunca precisaram me dizer uma só palavra
sobre isso.
Comento sempre com outros pais sobre um
fenômeno que aconteceu comigo: quando tornei-me pai de minhas primeiras e
únicas duas filhas, todos os filhos dos outros passaram a ter identidade com
elas. Não podia ver pai ou mãe correndo doidos atrás de menino, criança
apanhando, correndo risco de queda ou perdida em loja de shopping, que me desesperava,
procurava resolver, avisava aos pais, tomava as dores. Só o amor explica isso.
Um dia, na sala, num daqueles domingos
de nós três, eu, que era adorador de TV, percebi que há anos não mais assistia
a meus programas, pois estava sempre assistindo aos delas. Percebi ser caso de
renúncia espontânea, nem de doer, sem cobrança de nada em troca, simplesmente
pelo prazer de estar ao seu lado, compartilhando o seu mundo e vivendo das suas
emoções.
Também observava o esforço que a mãe
delas fazia para conseguir, diante de tão ralos cabelos daquelas cabeças,
colher nanofiapos para enfeixar em laço, arte que nunca aprendi, mas que
admirava e tentava, a meia boca, repetir, quando ao penteá-los após o banho,
coisa que eu adorava fazer. Da mesma forma, era nas noites em que Rachel, mesmo
depois de um dia intenso de trabalho, sentava à mesa a encapar livros e
cadernos, com o cuidado de colar as fotos impressas em carinhas de jato de
tinta.
Durante o tempo em que vivi com elas,
fazia questão de, ao chegar na escola, carregar suas bolsas, suas merendeiras,
acompanhá-las até as carteiras, abraçá-las, beijá-las e desejar bom-dia, como
se fora, sem drama, a última vez, pois esta não manda avisos. Saindo, puxava
conversa com os colegas ou mesmo com os professores, procurava saber-lhes os
apelidos, a impressão que teriam de minhas meninas, na tentativa de, muito
tímidas, entrosá-las.
Outro ato de amor que aprendi no
exercício paterno, foi o de não fantasiá-las, como fazem alguns pais criadores
de monstrinhos, na ilusão de serem melhores do que os outros e reconhecidos
pelos demais como se fossem pequenos adultos a viverem a vida frustrada dos
pais, reflexo de uma educação recalcada e da mais pura arrogância reflexa. Para
mim, um ato egoísta e de narcisismo, muito comum, inclusive, naqueles que
trabalham com arte e cultura, e que anseiam criar gênios que eles, pais, nunca
foram, nem serão. Ao contrário, pelo amor que tenho, procuro descobri-las, ouvi-las,
respeitar-lhes o ritmo, reconhecer seus gostos, sua voz, entender suas
motivações, seus medos, perceber o que as faz felizes, o que lhes acende o
brilho do olhar. Amo quem brilha no olhar.
E qual a recompensa disso? Mais amor.
Apaixono-me hoje ouvindo-as falar pelos cotovelos sobre as suas vidas, sobre os
coleguinhas, os gostos musicais, as dúvidas e as certezas (adolescentes têm
sempre mais certezas), a sua visão de mundo, num ato que parece expressar, para
meu orgulho, a confiança que têm em mim, da mesma forma que pago essa
confiança, confiando nelas, conversando sem impor minhas opiniões, sem criar
personagens ou ostentar discursos preconceituosos e dogmáticos, mas
acompanhando o revelar de suas vidas, como fora um humilde leitor.
Ouço-as, e me lembro das noites que
passamos juntos, balançando em minha cadeira de palhinha, coisa mais amada, ou caminhando
pelas alamedas da antiga morada, enroladinhas em manto colorido, e tenho
saudade daquelas duas cabecinhas acolhidas uma em cada ombro, no calorzinho do
pescoço de uma noite estrelada, ao vento e ao sereno, da musiquinha cantada sem
pressa, e a impressão de que é possível o mundo se sustentar no afeto daqueles
futurinhos preciosos de boquinhas cor de rosa.
Percebo-lhes a modéstia, a simplicidade,
a bondade e a graça como reconhecem a própria vida e me ensinam a amar. Sou
muito grato por isso. Meu maior presente, o que me faz insistir, é a beleza do
que me ocupa a vida esse amor de Luana e Liana.