Mundo, mundo, vasto mundo, ah, se ele se
chamasse Raimundo e tivesse nome de flor. Mas, não. Ele era feito de barro, do
barroso resto da criação do mundo, mundo que trazia em seu nome, como um rei, “Rei
Mundo”, e que assistia, moleque e nu, cercado de passarinhos, tijubinas e
calangos, o curso melancólico de um descuidado berço Pajeú.
Alheio a esse ainda estranho mundo, nosso herói,
um menino amarelo, magro e empombado, fincava seu universo em uma casinha de
motor de puxar água, fortaleza pessoal da solidão, na qual planejava seu futuro
e contava a memória de seu caminho, moldando sonhos de barro em caixas de
fósforos, com pedaços de palito de picolé e hastes de flores. Um mundo de
encantamento, o seu teatro da vida, que aqui entra em cena nesta enfeitada e
descartesiana publicação. Aliás, aos 5 anos, foi aqui, no palco do José de
Alencar, que Mundinho estreava no teatro.
Sim, era o que todos já sabiam: ele tinha pressa!
Queria vir a este mundo, vasto e perverso mundo, e por promessa nasceria e
seria Raimundo e “feito um pequeno deus, entre ritos, risos e batalhas, criou-se”:
dona Albinha, “Nâna êite mim”, “Nâna êite mim”.
Em Menino
Amarelo: as desventuras de um rei desencaminhado, o pentalógico Oswald
Barroso debulha a história do menino Raimundo Flor – qualquer semelhança é mera
coincidência –, retratando, assim mesmo, feito um grande álbum de retratos, suas
histórias e as histórias de seus ancestrais, mesmo os mais longevos e
dantescos, de sua família, de seus amigos, de seus amores, de seus lugares e
impressões, de suas saudades e dores, como se a puxar, sossegado pelo cordão, um
caminhão de madeira com molas de flandre, em um caminho de terra, com gosto de
terra, da nossa terra.
O menino, filho de dona Alba, uma genealogista
inata, e de seu Antônio, que assegurava: “Se me perguntassem (quem ousaria?)/
qual o maior poeta do mundo/ o que
sofreu na carne a dor da poesia/ responderia apenas: infelizmente, eu!”
Neto de dona Alda e de seu Luiz, de dona Nenén e
de seu Theodorico, o Tidico, como era chamado, e que partiu ao som da canção de
rádio, como despedida, cortando o seu coração de menino: “Eu sei que em breve,
muito em breve morrerei, por esse mal que me tortura o coração. Já não suporto
mais viver sem teu amor e vim me despedir nessa canção.”
Antes mesmo do Moacyr das 7 mortes, Raimundo
Flor havia de conhecer a morte na pele bovina de Flor do Campo, depois pelo
cachorro Fly e, por fim, pela irmã, a pequena Diana, perda irreparável de dona
Alba, primeiro e eterno amor do menino. Um garoto que descobria o mundo pela
janela de trem, que precisou até tirar quebrante de mau-olhado, que tinha medo
do mar aberto, da força das ondas, das pancadas d’água nos paredões de quebra-mar,
que tinha medo dos medos. Que detonava bala em penico, eternamente assombrado
pela figura de um boi holandês, com argola de ferro no focinho, preso,
esmurrando o chão e cavando a terra em fúria. Um pequeno cabo eleitoral de um
pai candidato a nunca eleito. Menino que se deliciava doente com maçã,
marmelada e guaraná com biscoito ou com a novidade da merenda na escola: o
sanduíche de pão com doce de goiabada! Que aguardava em casa na fila do banho
“talco, pente, sabonete, toalha, sapato, tamborete”. Que subia na caixa d’água
a pensar no desconcerto do mundo, lançando letras ao sol, saudoso a rememorar:
os passeios no zoológico da Cidade da Criança, a sorveteria da Loja de
Variedades, as vitrines do centro, as matinês do Cine Rex, o cordão das
Coca-Colas, o bloco dos bombeiros e das Marietas, o maracatu, o corso de
automóveis no carnaval, os circos montados na praça da Faculdade de Direito, a
Procissão dos Passos, os bondes, os cata-ventos, o acendedor de lampiões em
noites sem luar, o sereno dos teatros, a Noite de Violas com o Cego Aderaldo na
Casa de Juvenal Galeno, a festa de São Sebastião no Ipu, as retretas da praça
da Lagoinha, a irradiadora do padre Caubi, o Grupo de Pajens de São Luís, o
Grupo de Escoteiros da Aldeota, as sessões do Clube de Cinema do Ibeu, as
histórias contadas na beirada de rede pela Non, índia do Ipu, cria de sua avó
Alda, dos quintais repletos de frutas (manga espada, atas, goiabas, seriguela,
maracujás) e tantas e tantas outras suas, mas poderiam ser também nossas, lembranças
e aventuras retratadas com detalhes de quem talha a cinzel esse Ceará de
curumins e curuminhas.
Entretanto, na obra não há só doçura e
encontros, mas amarguras e desencaminhos. Ela, aquela mulher, a cigana, um dia
diria a seu pai: “Esse menino fará uma grande figura, terá grandes aventuras,
mas muitas penas.” Foi ou não foi, Raimundo Flor?
É quando o caminho de uma Rural desgovernada se
encontra com o sonho de nosso beque central, camisa nº 3 do Fortaleza – embora seu
coração fora Ferrim –, e o desperta para o “Risco Vermelho” que se inicia.
Menino
Amarelo é uma surpresa alada, um mergulho profundo no coração, uma
punhalada de saudades, uma torrente de emoção. É um voltar para casa paterna, deitar-se
no colo seguro, é a reunião à mesa da família, sem a incerteza de um futuro,
pois ele... já chegou!
Raymundo Netto
Escritor,
editor, amigo e admirador de Raimundo Oswald Barroso
A partir da semana de 17 de setembro, a obra poderá ser encontrada nas Livraria Arte & Ciência (no Benfica, av. 13 de Maio, 2400, e no Centro, na rua Major Facundo, 594), na Letra L (na av. 13 de Maio, 2383, Benfica, quarteirão da Reitoria da UFC) e na Livraria Lamarca (av. da Universidade, 2475, Benfica)
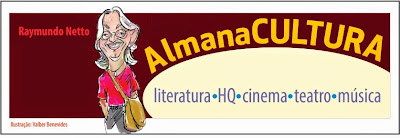

Texto supimpa do meu xará.
ResponderExcluirObrigadíssimo, poeta!
Oswald, um honra e um prazer escrever sobre seu livro. Supimpa está este livro. E que venham os demais! Abraço.
Excluir