Este ano, completa-se 102 anos do naufrágio do “Titanic”,
o famoso navio que diziam, na época, “nem Deus conseguiria afundar”.
Fato: Deus deve ter coisa mais importante a fazer do
que assistir a passeio de barquinhos nessa coxia (leia-se “oceano”) de subdesenvolvido
planetoide. Nem não precisaria conferir qualquer esforço para de rápido pôr ao
fundo o chaminenoso grandalhão, cemitério d’água de quase 2.000 pessoas, a
maioria da terceira classe, claro, assim como o é a do terceiro mundo. Entretanto,
não há tamanho para a queda, e esta, mesmo um dia, é certa para todos!
Barcos vêm e se vão numa vaga rosa ou escaudalosa
rota, muito própria — e única — de cada. À semelhança de nossas vidas, nascem,
navegam, se encontram, aportam, se perdem, soçobram, afundam e apodrecem.
Imagino-os com bandeirinhas festivas e, em seu
interior, dezenas e ou centenas de pessoas acenando: “Não se esqueça de mim,
também fiz parte de sua vida.” Às vezes, dentre tantos e inúmeros rostos de se
acharem importantes, um ou dois, apenas, valem a cor de uma sua lembrança. Como
barcos, carregamos coisas demais, a ponto de imaginarmos como ainda ser
possível continuar a navegar. Mas, como dizia o infante português d. Henrique,
criador da primeira escola virtual — a de Sagres — e visionário incentivador do
internAutismo: “Navegar é preciso; viver não é preciso!”
Navegamos, porém, buscando lastros a nos sustentar
ante o marzão de loucura, de violência, de consumo, de desperdício, de maldade,
de incompreensíveis discursos e regras vazios, de burríssimos “homo lattes” pontuados
na forja da pressa de se arvorar e não de contribuir, inventar,
originalizar-se.
Passo o olhar na “Crônica...”* do “Gabo”: “Escreveu-lhe
então uma carta febril de vinte folhas, na qual soltou sem pudor as verdades
amargas que trazia apodrecidas no coração desde a noite funesta. Falou-lhe das
cicatrizes eternas que ele deixara no seu corpo, do sal da sua língua, do
rastilho de fogo da sua verga africana. Entregou-a à funcionária dos correios,
que ia à sexta-feira à tarde bordar com ela para levar-lhe as cartas, e
convenceu-se de que aquele desabafo final seria o derradeiro da sua agonia. A
partir de então já não tinha consciência do que escrevia, nem sabia de ciência
certa quem escrevia, mas continuou a escrever sem tréguas durante dezessete
anos.”
O cantar dos galos, disso tinha “ciência certa”, calam
os apitos do barco, e calam profundamente, mas não podem com os marulhos dos
ventos soprantes. Não apenas com os ruídos, mas com a força que carrega as coisas
para o mais distante dos ermos e dos remos.
Os barcos quando nascem de “quilha torta” compreendem
bem de a extensão do caminho, mas não se iludem com trajetórias pré-traçadas,
nem creem tanto na força de seu timão. Preferem as velas ao motor e as estrelas
são seu único guia — enxergam mais à noite de astros. O risco de ir à pique é
sempre iminente e, por vezes, desejado, senão seguro. Para eles, as noites são
sempre frias e apenas o luar aquece os seus corações. Contemplam as madeixas
verdes das águas, ouvem os sons de seus duelos, apreciam o encontro breve — a
certeza do seguinte adeus — de outros barcos a navegar nas espáduas daquilo que
ignoram. Tristes, singram solitários em cursos inexplorados, por entre dragões
e sereias, a pôr demãos de futuro esquecimento, sem acenos de saudade, mas com
olhares de arrebóis lacrimosos de nunca se esquecer.
(*) Crônica de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marquez.
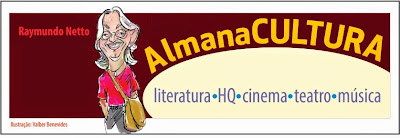

Nenhum comentário:
Postar um comentário