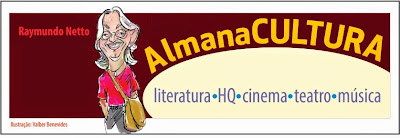“Eu sou sua mãe, por acaso?”
Com as mãos
nos quartos, a se ver um antigo açucareiro, Itelvina, ainda cedo, protestava diante
das contínuas solicitações do marido que não dava conta de suas próprias
coisas. Admirável nunca esquecer ou errar o caminho para a mesa de refeições ou
à TV. Por outro lado, Astolfo, resignado como um asceta e habituado com a turra
da esposa, nem ligava. Todavia, não tendo eu também o interesse de passar a mão
em sua cabeça, confirmo: em casa, de fato, o homem era de uma prodigiosa inutilidade.
“Se não
ajuda, criatura, pelo menos não atrapalha. Se não sabe limpar, não suja,
pelamordedeus!!!” Quem ouvisse essa cantiga diária, certamente, pensaria que
ela não suportaria por muito tempo, que desistiria e o condenaria aos umbrais
do inferno. Mas, veja só, quando criticada por ser a única esposa que, em dia
de encontros de família, preparava o prato do marido, disparava: “Eu coloco é um
bocado de espinhas de peixe para ver se pelo menos uma dá conta de vez desse imprestável!”
Não era nada disso, todos sabiam: ela o servia primeiro para garantir o melhor pedaço
e fazer do jeito que ele gostava. Astolfo entendia que aqueles arroubos e
ameaças eram da boca para fora, contudo, ali havia um porém: não falasse mal de
sua mãe que a casa caía.
Itelvina e
d. Ernestina nunca se deram muito bem. A sogra, como muitas, cria que o filho
era demais para ela, que poderia ter coisa melhor. Havia falecido há um tempo, mas
no calor das discussões, a culpa de tudo era sempre da má criação daquela mãe
extremosa.
Astolfo, para
escapar dos embates diários, tardava a voltar para casa. Do trabalho ia ao
costumeiro bar, jogar conversa fora, beber folgadamente, traçar um espetinho,
ouvir um sambinha ou assistir a alguma partida de futebol, qualquer uma.
Naquele
dia, excedeu na medida do copo e erguendo-o com uma dignidade extraordinária e
um tom de quem profetiza o fim do mundo, mas nunca a ressaca do dia seguinte, rasgou:
“Homem que trai a mãe não deveria nem ter nascido!” Acompanharam em uníssono
dois amigos de ocasião, tão melados quanto ele: “Mãe é sagrada!”.
Outro
colega, o Lafaiete, súbito, largou o copo na mesa, e deitou a chorar um pranto
irredutível. Ninguém entendeu. Deram uns tapinhas em suas costas, chamaram-no e
nada, o homem desatinou e, aos poucos, pôs-se a cantar miseravelmente: “... eu
me lembro o chinelo na mão, e o avental todo sujo de ovo... se eu pudesse eu
queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo...”
Os
parceiros de mesa entenderam: Lafaiete estava órfão. Todos os abraçaram, com a
mais legítima camaradagem e empatia, coisa que a sobriedade muitas vezes não
tolera.
E foi
assim, cambaleando, que Astolfo voltou para casa com a cançoneta na cabeça:
“Ela vale mais para mim, que o céu, que a terra e o mar...”
Itelvina,
que já estava em casa maquinando a discórdia do dia, quando o viu cruzar a soleira
da porta tão destruído, assustou-se. Ele nada falou, apenas murmurava, como em
transe: “Tu és a razão dos meus dias, tu és feita de amor e esperança...”
A seguir,
deitou-se no colo da esposa, a chorar convulso, enquanto a mulher o acolhia no
carinho de cafunés: “Tudo bem, meu filho, tudo bem... Vai passar, viu? Vai
passar...”
E assim, no
regaço quente da mulher, Astolfo mergulhou em sono perfeito e seguro, como se a
ouvir o canto terno de anjo traiçoeiro, ladrilhado de pedrinhas de brilhantes, de
um bosque que se chama solidão.