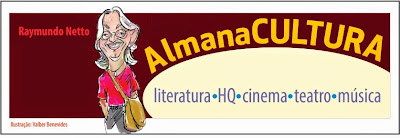Há todos os dias cabulosos.
Ante a manhã,
se esclarecia: à parede, azulejavam mosaicos coloridos, pedras, vidros, restos
de lembranças, rastos de vidas a descer pela coluna diante dos olhos claros,
verdeados, de passados brilúmens a se esparramar como o silêncio no quarto
vazio.
As paredes
nuas em sombras a sacudir-lhe a memória; a remexer o desvão escuro dos medos; a
segredar-lhe os romances secretos que não vieram nem virão; a confessar-lhe a
ausência de rasgar o coração.
Sonhava-se
insone.
À janela,
outra parede vinha imprevista — sem remorsos — a estorvar os céus de suas
lembranças.
Sobre as
telhas enegrecidas, garrafas de plástico, pneus, gatos preguiçosos a desfiar
estopas usadas, as manhãs quando a passarada estalejava o sol em asas amarelas.
No canto do
quarto, aranha porfiava contra formiga na trama de uma teia. A morte breve,
repentina.
Nos tacos,
marcas de arrastos pés de cadeiras de palhinha pondo a dormir os olhinhos de
retrós arregalados e cabelos retorcidos em fios de loiras lãs. Nos mesmos
tacos, os pregos surgindo, a emenda com cimento, o desamor cruel de estranhos
moradores a estilar infelicidades.
Baratas!
Baratas! Baratas! Odiava baratas!
Nos rodapés,
a lama negra, a tinta que salta, a bituca de cigarro, a folha seca que só — e
acidentalmente só — desce, o cupinzal abandonado.
A parede ao
lado ainda aguava da pia do banheiro. Gélida e nua, tiritava. Frio, frio... Escuro!
A apática
porta lhe abria o incômodo do tempo que se perdeu, e, mesmo assim, ela não
saía. Ela não saía. Ela não se ia nunca, esperando o fim da eterna idade de não
chegar, a envelhecer triste como o quarto vazio, como ela, e cheia de baratas
por dentro.