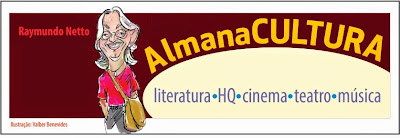A campainha da porta tilintava anunciando a
saída de Júlio, o servente da “Diorama”, uma loja de taxidermia. O rapaz não escondia
de ninguém, nem do patrão, o seu descontentamento com aquele emprego, mas sem
outra opção no momento....
O
estabelecimento pertencia ao sr. Vitório, homem velho, amargurado, de físico
atarracado e ar sombrio, mas extremamente habilidoso com as mãos quando de seu
ofício de dar “vida” a animais mortos.
Todos os
dias, Júlio chegava e mal recebia uma boa-tarde de seu patrão, liturgicamente empastado
por trás de sua mesa de trabalho, avental e mãos sujos de argila ou gesso e os
olhos espremidos no mirar profundo de um corpo devassado.
Ali, não
havia janelas. À luz apenas de pequenos faróis – e de alguma nesga intrusa de vitrais
coloridos da porta –, as sombras tremeluziam no ar inebriado de solidão e
silêncios imorredouros. Por todos os lados, prateleiras de livros de zoologia,
carcaças, ossos e recipientes de vidro com vísceras conservadas em formol ou
álcool, e paredes, teto e assoalho entulhados de animais – ou partes deles – “perpetuados”:
macacos, felinos – dos pequenos aos de grande porte –, psitacídeos de diversas
cores, cães, tucanos, guarás, gaviões, cobras, iguanas etc.
Pegava a
vassoura, o espanador e iniciava a limpeza, assistindo de esguelha ao trabalho
meticuloso de Vitório, a compor máscaras mortuárias, conferir medidas
corporais, manipular manequins de arames e moldes de resina, curtir peles e
couro, colando-os e costurando-os pacientemente.
Não
admitia, enquanto isso, “perguntas tolas”, a não ser quando ele mesmo – o que
acontecia raramente – terminava a sua peça e, numa admiração michelângica,
chegava-lhe junto, maravilhado, impondo aqueles cadáveres revividos aos seus
olhos, numa glorificação sinistra e quase divina de sua arte. Depois, a passos
leves de se andar em nuvens, conversava com seus animais, chamava-lhes pelo
nome, acarinhava-os a penugem ou o pelo, maternalmente admirando-os através dos
olhos de vidro colorido e brilhantes de próteses cuidadosamente escolhidas.
Vitório não
era querido na vizinhança. “Diorama”, que mais parecia aos vizinhos uma casa de
horrores, destoava do bairro a evoluir para um comércio elegante, de avenida
próspera e voltada para o futuro. Da mesma forma, os poucos clientes que lhe
restaram pareciam tão sombrios e excêntricos quanto ele.
Naquela
noite, a campainha tocara uma segunda vez. Vitório, iluminado apenas pela sua
luminária de mesa, desconfiou e a direcionou à porta, assistindo o aproximar de
um estranho segurando um punhal: “Me passa tudo que tem, velho, senão acabo com
você!”
Vitório,
como se o ignorasse, mandou: “Fosse embora!”. O bandido, alucinado, pulou sobre
ele, derrubando-o no chão. Agarrou-o violentamente pelas alças do avental e o
ameaçou. Mas o velho, indiferente, insistiu: “Eu não tenho nada... Mate-me!”
Irado,
iniciou-se a pancadaria. Se não dinheiro, qualquer coisa, mas dali não sairia
de mãos abanando.
Nisso, o
salão é tomado por sons estranhos, crescentes e ensurdecedores: rugidos,
guinchos, grunhidos, berros, piados estridentes, passos e bater renitente de
asas. Assustado, o larápio, diante das sombras a agigantarem no escuro, tapava
os ouvidos, quando sentiu que saltavam por todos os lados sobre ele,
mordendo-o, bicando-lhe os olhos, rasgando o seu rosto e a sua pele com garras
potentes. Ele gritava, até algo comprimir o seu pescoço, e, mudo, buscou em vão
o seu punhal...
Na tarde
seguinte, Júlio chegava à loja. O cheiro de químicos no ar. Estranhou a
ausência do velho, os livros dispersos no chão, vidros quebrados, gaiolas e
paredes vazias. Não havia mais animais, apenas dependurado no alto da parede um
corpo humano, um tanto disforme, estripado e com grandes olhos brilhantes de
vidro.