Há 6
anos, no oitavo dia de um agosto mês,
Airton Monte, cronista-mor deste periódico naquele tempo, assinaria a
derradeira coluna de sua laboriosa e diuturna cruzada de 19 anos de publicação.
Como essa indigesta e inacabável pausa não se tratasse de uma despedida anunciada
e muito menos voluntária, a crônica “Domésticos Percalços” nem de longe poderia
ser colocada entre as suas melhores peças literárias. Mesmo assim, podemos encontrar
nela os elementos mais frequentes que serviriam de matéria-prima para o
cronista: a casa (“simulacro do mundo lá fora”), a família (histórias de Sonia
– a sua “amada” e “ministra da Fazenda” –, dos filhos Pablo e Bárbara – a nossa
irreverente Babita –, e mesmo do cachorro – do qual não recordo o nome), a
incapacidade de lidar com as coisas práticas do mundo (“sujeitos imprestáveis como eu, totalmente
desprovidos de qualquer habilidade numa dessas mecânicas atividades, incapaz
até de pendurar um quadro na parede sem derrubar a própria utilizando martelo e
pregos”) e, claro, a sua rotina (nesse texto,
um domingo à tarde, as coisas que quebram, a dificuldade de conseguir
profissionais e a crítica a peregrinos do Caminho de São Thiago e a romeiros
cearenses, a partir de um documentário que assistia). Também é inegável a dicção
de Airton, aquela mesma, adornada de ironias, metáforas e deboche anárquico, a
mesma que conquistava a audiência dos amigos e leitores com quem frequentemente
dividia mesas de bar, esquinas, botequins (“Somente
numa mesa de botequim é que se realiza a verdadeira, legítima democracia”),
até mesmo o seu consultório do finado Hospital Mira Y Lopez, e, claro, o tão
propalado clã do Solar dos Monte.
Aos 63 anos
de idade, alguns meses antes,
ele já se queixava: “Vaga tão sem graça o meu
cotidiano, tão deserdado de mistérios, tão óbvia e repetitiva a minha vida que
nem uma telelágrima das seis, das sete, das oito, das dez, das onze.” E
filosofava: “não sei se é uma merda ou uma bênção haver vivido tanto”.
Provavelmente, nessa hora, beijava o escapulário do “Chiquinho”, “beque central
contra os maus olhados”, que trazia fielmente ao pescoço, colocava um disco na
vitrola, acendia um cigarro e se punha a batucar amorosamente à máquina de
escrever aquilo que antes rascunhou de punho. Na mesa de trabalho, um
dicionário era posto aberto, mesmo quando optava pela “mesmice ramerrã”. Já
ali, no legítimo palco dos escritores, o autor conversava com seus leitores.
Refletia. Brincava. Sofria. Comemorava. Criticava. Enaltecia. Amava. Convidava
um punhado de gente a parar um pouco e simplesmente olhar para cima: “Afora
esses pequenos distúrbios, nada mais surge no céu do que os aviões de carreira,
além das brancas nuvens polvilhando o azul solar da tarde acima de minha cabeça
atarantada.”
Hoje, dia 10 de setembro, no
momento em que você leitor(a) estiver lendo isto, completam-se exatos 6 anos de
encantamento desse cronista suburbano e “pós-moderno” (por que passara a usar
e-mails), frequentador assíduo do Flórida Bar (o “Hezbollah do Clube do Bode”),
autor de diversas obras, como O Grande
Pânico, Homem não Chora, Alba Sanguínea, Moça com Flor na Boca e Os
Bailarinos. Então, continuo sem entender a passagem de pessoas assim. Muito menos
entender como é que o mercado editorial, principalmente o local, ignora tal
manancial literário. Aqui, do meu palco particular, ouço na voz de Airton
Monte: “O meu medo
do tempo não é o medo de morrer, não é o medo de envelhecer. O medo da palavra
tempo é o de me tornar obsoleto em relação ao presente.” Obsoletos, amigo
velho, são aqueles que não ouvem o seu apelo. Viva entre nós.
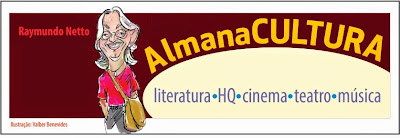

Bela crônica sobre um belo cronista. Airton Monte não pode ser esquecido e não se pode olvidar que Fortaleza é chão de grandes cronistas. Airton Monte é um deles e certamente o mais outsider.
ResponderExcluir6 anos... Já merecia algo mais.
ResponderExcluir