Era um dos livros raros na tenda de um “bouquiniste” à margem do
Sena. Em dois ou três sábados gelados daquele inverno
distante, passei por lá para admirar as gravuras e a tipografia da edição de
1874. Em fevereiro, o livro sumiu.
Um outro fetiche parisiense era ficar na calçada de um pequeno
restaurante da rive gauche e observar a comida fumegante, como se eu estivesse
do lado de fora de um aquário aquecido; mas a fome pelo livro raro era mais
voraz. Eu o havia lido numa reles edição de bolso, mais barata que um crepe na
rue des Écoles, ali ao lado da Sorbonne Nouvelle; ou um croque-monsieur em
qualquer padaria do décimo-segundo distrito, onde eu morava.
Um dia, depois de dar uma aula particular num subúrbio rico de
Paris, vi meu vizinho brasileiro da rue d´Aligre sair do edifício com um livro
apertado contra o peito. Parecia a edição de 1874, que imantava sonhos e desejos.
Perguntei se o havia comprado num bouquiniste. Negou com uma expressão confusa
e disse: Este livro tem uma história. Eu ia dizer que todo livro tinha uma
história, mas o vizinho, esquivo, encerrou a conversa.
Numa noite de março – lembro que nevara nesse sábado e Paris
estava branca e triste –, entrei num café do Faubourg Saint-Antoine e vi meu
vizinho apoiado no balcão, lendo anotações numa caderneta. Sem mais nem menos,
me convidou pra tomar um conhaque no seu “lar”. Eu, que morava num lugar
apertado, me surpreendi com esse “lar”: uma ironia ou um eufemismo radical.
Ele dormia num quartinho com uma latrina, que a herança do
orientalismo francês chamava de banheiro turco. As quatro paredes pareciam
febris e suarentas de tanta nostalgia, e uma lâmpada solitária no teto
iluminava as noites mais escuras da alma do expatriado.
Paris, para ele, era mais sombra que luz? Foi o que eu me indaguei
ao observar o aposento opressivo. Me ofereceu conhaque, depois se serviu e
entornou meio copo, sedento. Sentamos no carpete puído, nós dois cercados de
jornais e revistas franceses. O livro raro estava sobre uma mesinha encostada a
uma parede cheia de fotografias de amigos. Ele falou um pouco de cada um deles;
por fim, movido pelo conhaque, contou com elã a história do livro. Impossível
resumir numa crônica essa narrativa de êxtase.
Saí de lá às seis da manhã do domingo, e só tornei a revê-lo numa
tarde de abril, quando as árvores esverdeavam, floridas. Ele parecia possuído
pela alegria de um viajante que volta para casa. Ajudei-o a carregar uma sacola
de lona até o metrô da Bastilha, de onde iria a Châtelet e depois ao aeroporto.
Na despedida, perguntei se a sacola estava cheia de pedras parisienses.
“Jornais e revistas”, respondeu. “Selecionei mais de cem
exemplares do Le Monde, Figaro e Libération e duas dúzias da Nouvelle
Revue Française. É a minha bagagem. Tenho pouca roupa, nenhum objeto.
Aquele livro está guardado num estojo, dentro desta maletinha... É o meu
amuleto”.
Ri dessa loucura, e ele, talvez por contaminação, ou para não
chorar de sua miséria, também riu. Esse rosto risonho no subterrâneo da
Bastilha foi a última visão do meu vizinho.
O rosto dele foi borrado pelo tempo, mas não a história do livro.
Trinta e cinco anos depois, minha editora francesa me enviou um pacote. O
remetente era o ex- vizinho, e o endereço, parisiense: rua Charles Baudelaire,
ali perto da rue d´Aligre. No fundo, voltara ao mesmo lugar.
Numa longa carta, rememorou nosso encontro de 1981 e agradeceu
mais uma vez minha ajuda naquela tarde de abril. Recontou a história do livro
raro, acrescentando detalhes e omitindo alguns, que eu recordava: omissões que
atribuo à duvidosa ordem do tempo ou à inevitável desordem da memória. No fim
da carta, disse que tinha me visto no Salão do Livro de Paris, em março de
2015.
“Éramos dois velhos... Você não me reconheceu, e eu não quis
quebrar o encanto do esquecimento”.
Quando abri o pacote, vi com emoção o livro raro, e tão cobiçado.
Era um convite sutil para que eu escrevesse a outra história desse livro: uma
narrativa triste e tumultuada de um jovem brasileiro no exílio parisiense.
Publicado originalmente no Caderno 2 do Estadão (2017)
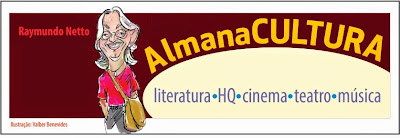

Sempre vou encontrar o Milton Hatoum por aqui?
ResponderExcluirSempre é uma palavra complicada, assim como nunca, mas é possível.
ExcluirNão sou escritor, muito menos literato, mas tenho um blog onde faço uns rabiscos.
ExcluirFicaria muito grato com sua visita.
Abraços!
"feldades.blogs.sapo.pt"
OK, Felipe. Obrigado pelo toque e pela leitura também. Continue rabiscando "sempre". rsrs
Excluir