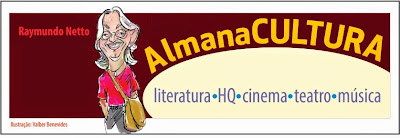Luana
Rachel. A Lua. A de “brinco ouro”, como se distinguia da irmã de abrigo natal,
a “de pérola”, por encontramento recente, olhando-nos ainda de estranhos: pais
e filhas.
Das duas,
a mais simpática. A menor, cujo maior sorriso. Ao traçá-lo banguela, apertava
os olhos, mas noutro caso, trazia-os descortinados para o mundo.
Cedo,
cedo, convivemos muito próximos, ela por sobre mim, cabeça encoberta em meu
pescoço. Era à noite; era ao dia. Quantas vimos o Sol nascer ao balançar lento
à cadeira de palhinha. De então, pomos à estreita amizade enamorados a uma
ternura gratuita.
Já de
pequena, a Lua gostava o desenho — mania de criança expressar-se a toda forma —
sem pressa, com detalhes, mundos fantásticos, sempre estrelados, com seres de corpos
finíssimos a sustentar uns cabeções, em cabriolas de cores impossíveis — mau
hábito de adulto estragar-lhes um céu de ser azul e grama há de sempre verde,
num realismo monótono decepcionante.
Já
criadas pernas, inda sem cabelos — durante muito tempo só fiapinhos laçados por
preciosismo de coração materno —, Lua e Lia me davam as mãos a passeios
vesperais. Alumbrava-me a descoberta do “dar de mãos” dos filhos. Engraçado
sentir num gesto tão trivial, a entrega absoluta incondicional, algo de nos dar
de um todo em confiança e amor, podendo de ali ser levados a qualquer lugar e a
tempo, pois que quando um filho nos dá a mão ele se dá por completude, no que
confia de vero, na mais autêntica sinceridade.
"Criança
não mente", isso, sim, uma mentira. Criança emprega da mentira, e é da
dificuldade de pais fazer com que não precisem usar-se dela a costume. Dela o
mundo sobeja e se farta.
À criança
não se subestima, não se diminui, não se cobra de adulto, não se ensina a ser
super, muito menos a faz espelho de corrigir passados e malfeitos. À criança
todas as liberdades de ver o mundo, de recriá-lo, de acolhê-lo em significados
particulares de nova aurora, mas a saber-se nunca só, pois na solidão o ser
padece.
A Lua
sempre de vez gostava surpreender com tiradas de espírito sobre assuntos
comuns. Curtia-me percebê-la tão menina a maquinar o pensamento em busca de
chamar-nos atenção e, exitosa, gargalhar de criança e repetir-se noutro dia, e
noutro, para que não mais esquecêssemos seu feito extraordinário.
Escritor,
há quem credite, é gente que trabalha ao tempo-vai, mas que ninguém entende. É
na beira da praia, enxerido à conversa de ambulante, no ônibus pela cena
engraçada de um esquisito trocando falas, na leitura derreada de livro cheio de
ideias no sofá, assistindo à película de cinema, enfim. Para minhas crianças,
mas como todos, só veem que o pai-escritor está em casa, ali, sentado o tempo
inteiro — "será que papai é paraplégico?" — e, em meio àquela cena
sofrida escrita a suor, momento particularmente tenso e intenso, me chega
Luana, desencucada da vida, e rebola à frente, um desenho a lápis da boca
do forno:
— Pai,
olha... sabe o que é isso?
Olhando o
rascunho de contorno grafite, de ligeiro, para não perder a brasa da forja:
"Filha, é um cavalo. Que bonito, meu amor..."
— Ô,
Pai... olha direito, não é um cavalo...
Lanço
novo olhar, ainda de pressa ao início de nervoso: "Filha, me desculpe, mas
isso é um cavalo, sim!"
— Papai —
ressentindo-se a tão adulta ignorância. —, é uma zebra...
Paro,
então. Respiro fundo de sem jeito. Coloco o desenho no colo. Miro aquele
projetinho de artista sério em olhos amendoados e brilhantes, e ainda assim,
desconfiando-me, sentencio:
—
Luazinha, isso é um cavalo... As zebras têm listras!
— Mas
pai, ela tem listras... só que são brancas!