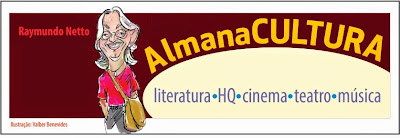“(...) É no
jornal
que o povo encontra o seu pão espiritual de cada
dia. O jornal descortina-lhe o mundo, vencendo distâncias. [...] Quando o povo
geme escravo, entorpecido pelas algemas do cativeiro, indiferente à violência
paralisante do grilhão, o jornal é o sangue novo, forte e generoso a nutrir-lhe
as células dormentes, a despertar-lhe os neurônios amortecidos, a ondear-lhe,
nas veias, a torrente vigorosa e enérgica da revolta. O povo precisa de mais
gritos que o estimulem, de mais vozes que lhe falem ao sentimento. Eis porque
surgimos...”
Esse é um
fragmento do primeiro editorial d’ O
POVO, o jornal mais antigo e o
único diário em exercício no Ceará, publicado em 7 de janeiro de 1928, ou seja,
há 90 anos. Foi escrito pelo seu criador, o jornalista, telegrafista, odontólogo
e poeta baiano Demócrito Rocha (1888-1943), que, em 2018, se vivo fosse, celebraria 130 anos.
Quem conhece
um pouco da história do Ceará sabe que é impossível se passar pelas décadas de
10 a 40 do século XX sem tocar em seu nome. Na década de 20, em especial, por
meio de suas “Notas”, era, em um tempo sem rádio, TV ou internet, a legítima voz
do povo que acolhera em seu coração, razão pela qual teria sido, na época, covardemente
surrado e humilhado em praça pública por 12 policiais armados a mando do
governador.
Daí, fundaria
o periódico na marra, por atrevimento, com pouquíssimos recursos e quase
nenhuma condição, movido pelo sonho de edificar o jornal que ele queria, mais
justo, livre e independente, inovando o fazer da imprensa desde então.
Com início num
sobradinho da praça dos Leões, um gregário Demócrito criava campanhas,
concursos, promoções, poemas, lia caligrafias, atraía intelectuais e escritores,
idealizava projetos musicais na recente rádio PRE-9, elaborava estratégias
comerciais, participava de reuniões artísticas, políticas e sociais de toda
natureza. Durante algum tempo, exerceu concomitantemente as carreiras de
dentista e de professor da Faculdade de Odontologia – do qual também foi
defensor – para ajudar a pagar a folha do jornal e manter a sua família: a
esposa Creuza e as filhas Albanisa e Lúcia.
Assim, com
muita resiliência – e forte dose de teimosia e idealismo – conseguiu sobreviver
à quebra da bolsa de Nova York, logo no ano seguinte, além de duas grandes
guerras mundiais, às censuras e golpes de estado e a todas as crises nacionais
e internacionais que elevavam os preços dos insumos e equipamentos, entre os
quais, o imprescindível papel.
O POVO, ele sabia,
seria amado e odiado, aclamado e perseguido, de modo que habilmente pressentia quando
reagir e/ou quando recuar, tudo ao seu tempo, e nada mais natural para uma
folha que trazia entre seus princípios a democracia. Princípio esse que
Demócrito levou às tribunas quando deputado federal, até ser deposto durante a
ditadura Vargas. Idealista, Demócrito não visava ao poder, morrendo sem nunca
ter tido uma casa própria ou publicado um único livro seu, ao tempo que
publicava e promovia os de outros talentos locais.
Entendo que
o jornal O POVO, aos 90 anos, não é
a sua diretoria, assim como também não é apenas o seu corpo funcional, menos
ainda o edifício que o acolhe. Corre nele a seiva de Demócrito Rocha e de todos
os seus sucessores: Creuza do Carmo Rocha, Paulo Sarasate, Albanisa Sarasate,
Demócrito Rocha Dummar e, hoje, Luciana Dummar. Vai mais além, trazendo nessa
artéria aberta o espírito de todos aqueles que por essa escola passaram um dia.
De personalidades reconhecidas a pessoas comuns que encontramos nas ruas, nos
bares, nas igrejas, nas praças e que, ao saberem que fazemos parte do O POVO, nos relatam histórias suas ou
de parentes e amigos que ali escreveram ou trabalharam, ou mesmo as de assinantes
históricos e de matérias que os impactaram. Já conheci jornalistas, editores, gráficos
e até ex-gazeteiros que se recordam do som das pesadas máquinas ou das campainhas
que indicavam a hora de distribuir o vespertino.
O jornal de
Demócrito, acessível em grande audiência pelos impressos, celulares, tablets, computadores, rádio e TV, é presente
em 90 anos de história de todos os dias e em todos os segmentos, fazendo as
contas para além do calendário, significando e revelando muito mais do que
podemos ver, ler, ouvir ou tocar. E, tudo isso, acredite, a partir de um sonho.