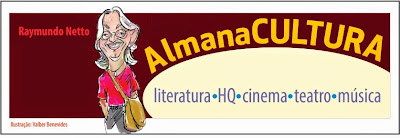Clique na imagem para ampliar!
Os primitivos retornam vez por
outra, ora repaginados com o nome de ingênuos, ora com polimentos de
civilização, então naifes; vira e mexe e estão emoldurados nos escritórios, nos
saguões das repartições públicas, proliferam nas galerias de arte... enfim, referências
de uma tendência reciclada, posta em moda. No Clube do Bode a discussão
sabatina em torno do mito pirambulento que fez escola se arrasta desde que um
ex-marchand (xereta da escolinha
risonha e franca que encomendou manadas e manadas dos bichinhos fantasmagóricos
para aboiá-los até os currais sulistas, as boníficas galerias da desvairada
pauliceia), escancarou com todas as letras e todas as cores sua participação na
divulgação da obra do artista.
O próprio pai de chiqueiro-mor da
citada agremiação etílico-cultural se inicia na matizada e traiçoeira arte de
leiloar pensamentos emoldurados e atiça o fogo da antiga polêmica em torno das
origens escusas dos pesadelos ancestrais do Chico da Silva postos em tela
através dos seus discípulos, quando não, dele próprio. E se achegaram mais
outros intelectuais, afastados de suas lidas sensaborosas, com tempo de sobra
para dedicarem-se a um gratificante e rendoso lazer, cheios de si e de
sapiência. Como o verniz que o Chico sequer punha nas telas, derramam potes e
potes de conceituações em torno da arte do Pirambu, maledicências sobre a vida
desregrada do artista, colocando mais em evidência as incrustações de ouro de
sua arcada dentária e os dólares supostamente esbanjados nos lupanares do Farol
que a própria essência daquela manifestação coletiva; os impulsos e a explosão
de imagens passadas pela cabeça do consertador de guarda-chuvas e seus
auxiliares imediatos.
Jean Pierre Chabloz, sim,
percebeu naquele instrumento humano não uma mina de dinheiro, porém, a sangria
de uma veia popular prenhe de pigmentos alucinantes derramados nas telas como
para conter a força mental daquele grupo entusiasmado. Claro que quando Chabloz
pôs a boca no mundo choveu de aproveitadores, como acontecera tempos atrás com
a arte africana na Europa. E o cobiçado prêmio da Bienal de Veneza só veio
acalorar os ânimos de colecionadores, museus, novos ricos e até camelôs da
Beira Mar. A febre foi braba, intensa e duradoura. Chico da Silva mais parecia
um bicho saído de seu próprio cavalete, fruto de seus pesadelos ancestrais.
Tipo aberração de circo. Visitado, paparicado, comprado e falsificado. Como
falou Garcia Marquez, era o único que não participava do próprio evento. Não
percebia a dimensão do valor, da fama e nem da consistência do próprio
trabalho. E se deixou levar pelas águas passageiras da glória e a louvação dos
oportunistas.
Agora muito se fala em Chico da
Silva, uma reabilitação, uma revisão depois da chama ter abrandado? Apenas uma
reaquecida num mercado em descrédito? Desenfurnaram o Babá, um dos
sobreviventes que foi buscar, no fundo do baú, maresiados álbuns com
referências dos quadros mais solicitados, portfólio da bicharada, espécie de
caderno de caligrafia pontilhado para que, no futuro, se retomassem roteiros
dantes palmilhados com sucesso. Desta feita dragões e besouros sairiam de tocas
e locas para, de novo, alegrar paredes nuas numa chuva de cores pirambulescas,
um pastiche da arte do velho Chico que em vida já era exaustivamente parodiado.
Se bem que com sua permissão, seu aval, seu timbre, seu lacre.
A peste dasilviana foi tão cruel
e descontrolada, lá pelos anos setenta, que o autor não se deu conta da demanda
desmedida. Acercou-se de parentes e aderentes e passou a reger uma orquestra
desafinada que, no entanto, encantava a galera, bravo! Mal comparando, agia
como os mestres renascentistas em relação aos discípulos amados. Por aqui,
Chica, Babá e muitos outros; um cuidando de garras, outros de olhos... asas e
rabos multicores; arco-íris e matagais exuberantes. E enquanto o cão esfregava
um olho, Chico da Silva despejava o jamegão ao lado do selo de autenticidade:
as impressões digitais, um borrão grosseiro, marca de um polegar de calosas
mãos de trabalhador.
Pelo visto teremos revisitada,
com todo alarde, a arte do Pirambu. Muito bom. Aciona o mercado, e, melhor, põe
aos olhos da nova geração a maracutaia que se urdiu há meio século naquela
beira de praia. Com sabor de guelra e cheiro de maresia. Vamos rever o que
princesas e estadistas, curiosos e pesquisadores, vieram tomar tenência nestes
areais excluídos do mapa, um favelão de pescadores ilustrados, lodo de onde se
colheu esta flor: o primitivismo da equipe do Chico. Que, a exemplo dos
anônimos grafiteiros, começou pintando nos muros da sua aldeia. Para ser universal
logo adiante. E sempre.