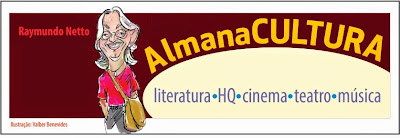Clique na imagem para ampliar!
terça-feira, 31 de julho de 2012
domingo, 29 de julho de 2012
"Quantas de Nós", no Bazar das Letras do SESC, na terça (31.7)
Clique na imagem para ampliar!
Cleudene Aragão, Inês Cardoso, Maria Thereza Leite, Ruth de Paula,
Vânia Vasconcelos e Carmélia Aragão
são as autoras do livro ganhador do
Prêmio Moreira Campos da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará.
Entrevista de Floriano Martins com Sânzio de Azevedo
Compreende Jorge Rodríguez Padrón que o poeta deve
servir ao crítico como seu guia único. Refere-se ao poeta como um todo,
portanto, ao ditado de sua escritura. E completa: “porém para nos perdermos
nele”. O texto como lugar de encontro, lugar de uma identificação e não de uma
determinação; reflexão e não a soberba da explicação – eis o que defende o
mencionado crítico espanhol. A entrevista que temos a seguir, com o crítico e
historiador Sânzio de Azevedo
(1938), revela a acuidade reflexiva de um importante personagem da literatura
brasileira. A extensa obra de Azevedo apresenta dois títulos interligados: Dez ensaios de literatura cearense
(1985) e Novos ensaios de literatura
cearense (1992). Contêm ambos ensaios relevantes sobre alguns momentos
básicos de nossa literatura, a exemplo de textos dedicados ao estudo da obra de
José Alcides Pinto, Milton Dias, Rachel de Queiroz, Moreira Campos, Francisco
Carvalho e Edigar de Alencar. Constitui ainda característica fundamental de sua
obra crítica assessoria prestada à Universidade Federal do Ceará, no tocante a
algumas edições importantes que tem feito circular, entre as quais Poesia completa (1996) de Aluízio
Medeiros, por ele organizada e prefaciada. É bem verdade que Sânzio
considera-se mais um historiador do que propriamente crítico, no que há algo de
verídico, sobretudo se pensarmos em livros como A academia francesa do Ceará (1971), Literatura cearense (1976), Apolo
versus Dionisos (1978) e Aspectos da
literatura cearense (1982). Não convém, no entanto, separarmos memória e reflexão,
visto que seus estudos não se detêm unicamente na mera sucessão cronológica dos
fatos, observando lucidamente o lugar e o valor que cada acontecimento ocupa na
história de nossa literatura.
O pensamento crítico alimenta a compreensão histórica de nossa passagem por este mundo, razão porque cabe ao crítico fundar-se a partir de um diálogo perene com todas as forças que nos orientam e desorientam. Não estamos rumo à transcendência, e sim em busca de uma melhor compreensão de nossa atuação como animal pensante. Não há outro universo mais propício à crítica. Que se realize, então, como singularíssimo lugar de encontro. Neste sentido, Sânzio de Azevedo revela-se nome de extrema importância, a ser somado ao dos grandes críticos e historiadores da literatura neste país.
Floriano Martins: Entende o poeta e ensaísta colombiano Harold Alvarado Tenorio que deve a crítica agir como “comentário e reflexão sobre um objeto artístico a partir de sua própria linguagem”, concluindo que “para ser capaz de falar variadas linguagens necessitamos de muito ócio, muita dedicação ao aprendizado dessas tonalidades”. Você tem uma vida inteira dedicada ao exercício crítico. Como defende tal exercício?
Sânzio de Azevedo: Em primeiro lugar, não me considero propriamente um crítico, e sim (se isto não for imodéstia) um historiador da literatura. Claro que há procedimentos críticos na análise de textos e, por outro lado, não posso fazer história se trato de autores de hoje, o que tem ocorrido vez por outra. A meu ver, existe a crítica que eu chamaria de normativa (que pretende orientar o escritor) e a descritiva (que pretende orientar o leitor). Seriam os casos, respectivamente, de Machado de Assis e Eugênio Gomes. Se há crítica no que escrevo, estaria no segundo modelo.
FM: Segundo sua própria observação, José Albano foi
um desses poetas impossíveis de ser inseridos em uma territorialidade estética
única, não podendo ser convocado a compor, com exclusividade, o quadro de
nenhuma escola literária de seu tempo. Isto acaso o situa em uma posição
superior a todos os seus pares? Seria correto dizer que José Albano é o
primeiro grande poeta cearense?
SA: Para mim, a grandeza de José Albano está na
qualidade de sua poesia e não no fato de ele não poder ser enquadrado em uma
corrente estética (um dos raros escritores a quem chamo de gênio foi um puro
romântico: Victor Hugo). Aliás, a grandeza de José Albano (considerado por
Manuel Bandeira um “altíssimo poeta”) mostra a inanidade crítica de não me
lembro quem que afirmou, nos anos 20, que vale mais um poema ruim e modernista
do que um que seja bom e passadista. Ninguém mais passadista do que Albano. A
última pergunta não é fácil: eu diria que antes de Albano tivemos Juvenal
Galeno (cuja obra tem sido subestimada), Joaquim de Sousa e Lívio Barreto. Mas
Albano é, sem dúvida, um dos maiores poetas cearenses de todos os tempos.
FM: Recentemente se publicou uma segunda edição (revista e ampliada) de seu A padaria espiritual e o Simbolismo no Ceará. Como sabemos, o Simbolismo no Ceará possui uma característica singular, que é o fato de haver antecedido o parnasianismo, isto sem falarmos no aspecto do mesmo haver sido mais criador. Em teu livro observas que o Simbolismo no Ceará deu-se simultâneo “ao movimento oriundo do Paraná”, ao mesmo tempo em que mostrando-se independente deste. Quais os traços que diferenciam um do outro?
SA: Ao afirmar que o Simbolismo cearense de Lopes
Filho e Lívio Barreto era independente do Simbolismo do sul do país, quis
significar que ele tinha raízes próprias, não sendo caudatário do grupo da Folha Popular, como o de outros Estados,
cuja origem está no Paraná. Mas há traços distintivos nos nossos poetas, uma
vez que neles a influência de poetas portugueses (Antônio Nobre,
principalmente) foi bem maior do que em Cruz e Sousa e seus seguidores. É
interessante também o fato de a corrente aqui haver surgido na mesma época do
movimento no sul, o que raramente acontece, tendo ocorrido apenas por volta de
1873, com o Positivismo da Academia Francesa de Rocha Lima, Tomás Pompeu,
Capistrano de Abreu e outros. Gostei de você ter mencionado o fato de o
Simbolismo cearense ter sido anterior ao nosso Parnasianismo. Esta é uma de
minhas poucas descobertas…
FM: Houve um retardamento histórico do Brasil no
tocante ao cultivo da poesia moderna. Enquanto ostentávamos o parnasianismo
como uma novidade literária, países europeus e hispano-americanos já
envolviam-se diretamente com o Modernismo. Apresentava-se então, entre nós, um
quadro de subserviência total no tocante a padrões literários já ultrapassados.
Como esta situação iria influir no surgimento do movimento modernista de 1922?
Segundo observa Ivan Junqueira, verifica-se neste uma primazia de um
“nacionalismo exacerbado que tangencia o fascismo”. Penso também em um outro
grave equívoco: enquanto inúmeros poetas hispano-americanos (tanto modernistas
quanto vanguardistas) rejeitavam veementemente o Futurismo de Marinetti, o
Brasil o recebia de braços abertos, a partir da exaltação que lhe fazia Oswald
de Andrade.
SA: Fala-se muito no retardamento histórico do
Modernismo no Brasil, mas ninguém se lembra de observar que o mesmo aconteceu
com outras correntes literárias. Tomando por base a França, de onde vinham as
ideias (inclusive algumas do Modernismo, com Apollinaire, Max Jacob, Tzara e
outros), veremos que o Romantismo, inaugurado no Brasil por Magalhães em 1836
(com os Suspiros poéticos e saudades),
já existia em 1801 no Atala de Chateaubriand, para não irmos à Alemanha, onde
Goethe havia publicado o Werther em
1774! O Parnasianismo, que se prenunciava vivamente nos Esmaltes e camafeus (1852), de Gautier, e se implantou na França
depois do Parnaso contemporâneo (1866), desembocou aqui em 1878, com as Canções românticas, de Alberto de
Oliveira. O Simbolismo, que teve como precursor Baudelaire, com As flores do mal (1857), no ano de Madame Bovary, de Flaubert, explodiu com
o manifesto de Moréas, em 1886, e no Brasil, apesar das notas precursoras da
década de 80, só se inaugura com o Missal
e os Broquéis de Cruz e Sousa, em 1893 (ano do Phantos, de Lopes Filho). Iria ficar como uma corrente subterrânea,
como diria Andrade Muricy, sem desbancar o Parnasianismo. Mas é bom que se
lembre que Os troféus, de Heredia, um
dos frutos mais radicais do Parnasianismo francês, foram editados lá nesse ano
de 1893, e com grande repercussão. Quanto ao Modernismo hispano-americano, era,
como disse Gilberto Mendonça Teles, uma “mistura de formas
parnasiano-simbolistas”, com predomínio destas últimas, acrescentemos nós. É
pelo menos o que se pode depreender da leitura dos versos de um Rubén Darío, de
um Santos Chocano ou de um Amado Nervo. Quanto ao fascismo contido no
nacionalismo de alguns modernistas da primeira hora, sabemos que Plínio Salgado
era do grupo Verde-Amarelo, e Affonso Romano de Sant’Anna já apontou o caráter
estado-novista (ou seja, fascista) do Martim
Cererê, de Cassiano Ricardo. O que faria contraponto com o comunismo de
Oswald de Andrade e, depois, Jorge Amado e Graciliano Ramos. No Ceará, tive
oportunidade de apontar notas integralistas na poesia de Sidney Neto, o que por
sua vez contrastaria com o comunismo de Jáder de Carvalho.
FM: Uma das provas da grande agitação intelectual que
se vivia no Brasil dos anos 20 é justamente uma quantidade enorme de revistas
literárias publicadas em vários locais. No Ceará não tivemos propriamente uma
revista, mas houve uma notável repercussão a partir da publicação do suplemento
Maracajá, do jornal O POVO. Embora a Revista de Antropofagia tivesse
reproduzido alguns artigos de Maracajá,
havia uma certa rivalidade entre ambas facções modernistas. Em seu livro O Modernismo na poesia cearense [com
previsão de lançamento em 2ª edição, ampliada com mais ilustrações e a
publicação do fac-símile de Maracajá,
a ser lançado em 2012] há referência a um incidente envolvendo um artigo de
Antônio Garrido, por exemplo. Quais as causas diretas dessa “rivalidade”? E
quais relações mantinham os diretores de Maracajá
com outras publicações da mesma época?
SA: Não vejo propriamente rivalidade, mesmo entre
aspas, entre a Revista de Antropofagia,
de São Paulo, e Maracajá, de
Fortaleza. Pelo contrário: acho incrível o pessoal haver concedido espaço à
gente do Ceará, o que não era usual. No que tange ao incidente, o que aconteceu
é que os paulistas não quiseram transcrever as críticas que Demócrito Rocha
fizera ao tipo de Modernismo deles. Sobre a repercussão do suplemento cearense,
O POVO registrou referências n’O Globo,
do Rio, em maio de 1929, e no Diário da
Tarde, de Curitiba, em julho. Não me lembro de outras, mas já é muito para
um suplemento que teve apenas dois números.
FM: Segundo Alfredo Bosi, o Simbolismo no Brasil
viu-se obrigado a conviver com um “longo período realista que o viu nascer e
lhe sobreviveu”, observando que se o mesmo tivesse conseguido “romper a crosta
da literatura oficial” […] “outro e mais precoce teria sido o nosso Modernismo,
cujas tendências para o primitivo e o inconsciente se orientaram numa linha
próxima das ramificações irracionalistas do Simbolismo europeu”. Por outro
lado, destaca Vera Lins que as tendências atribuídas ao Simbolismo europeu por
Bosi eram também características do Simbolismo brasileiro. O mesmo se poderia
dizer do Simbolismo no Ceará? Acaso teriam sido essas tendências “para o
primitivo e o inconsciente” que dificultaram uma ação maior do Simbolismo no
âmbito da literatura brasileira? Enlaço aqui com uma afirmação de Franklin de
Oliveira de que “o parnasianismo só obteve anacrônica permanência no Brasil
porque, entre nós, em sua época, os simbolistas não alcançaram a audiência que
lhes era devida”.
SA: Não me parece que o Simbolismo brasileiro haja
tido as mesmas características do europeu; o nosso foi bem mais superficial.
Qual o poeta nosso que, além de Kilkerry (e nem sempre), ostentou um hermetismo
que lembrasse Mallarmé? No que toca à versificação, Andrade Muricy observou com
razão que ele não inovou: “Os sonetos de Cruz e Sousa mantêm a estrutura
métrica parnasiana”. Por sinal, num estudo publicado na Revista de Cultura Vozes em 1977, ao falar de desarticulações
rítmicas e fugas aos padrões métricos, apontei casos em Emiliano Pernetta,
Alphonsus de Guimaraens, Silveira Neto, Lívio Barreto e outros, mas notei que
Cruz e Sousa e o próprio Kilkerry (inovador na mensagem) seguiam rigorosamente
a versificação clássica. No Ceará, há “irregularidades” métricas em Lopes Filho
e em Lívio Barreto, mas seu Simbolismo é ainda menos radical, porque bebido
principalmente em Antônio Nobre, a influência maior. Com relação à “anacrônica
permanência” do Parnasianismo no Brasil, temos um problema de aritmética: como
foi dito na resposta anterior, Os troféus,
de Heredia, são de 1893, e as Poesias,
de Bilac, de 1888, anteriores portanto. O certo é que, como lembra Afrânio
Coutinho, os movimentos literários se imbricam; é falsa a noção de que, na
França, iniciado o Simbolismo, o Parnasianismo morreu. O livro precursor do
Simbolismo na França todos sabem que é As
flores do mal, de Baudelaire, de 1857; se tomarmos o ano dos Esmaltes e camafeus (1852), de Theóphile
Gautier, como marco precursor ou mesmo iniciador do Parnasianismo, dele para o
livro de Heredia (que não marca o fim da corrente), teremos 41 anos. No Brasil,
de 1878, ano da estreia de Alberto de Oliveira, para 1922 (ano da Semana de
Arte Moderna), temos 44 anos. Em suma: o anacronismo não nos parece tão
chocante à luz da aritmética.
FM: Tanto Amadeu Amaral quanto Franklin de Oliveira
sustentam a carência de base filosófica em nosso Modernismo, afirmando este
último que o mesmo limitou-se tão-somente a “romper com o passado”, em nada
fundamentando essa ruptura. Como situar esta observação dentro do panorama do
Modernismo ocorrido no Ceará?
SA: O Modernismo do Ceará é fruto do movimento nascido
em São Paulo, e o que se disser de um vale para o outro. O que se queria mesmo
era fazer algo de diferente. Basta lembrar que, como observo no meu livro a que
você se refere, os modernistas daqui estavam em estreita aliança com os rapazes
da “Antropofagia”, mas apesar disse se diziam pertencentes ao “verde e
amarelo”, quando, em São Paulo, “antropófagos” e “verde-amarelistas” andavam às
turras…
FM: Também pediria uma avaliação sua acerca da revista
Clã, que me parece um dos marcos
fundamentais da literatura brasileira, inclusive pela dilatada extensão desta
aventura. É possível traçarmos uma analogia de seu conteúdo editorial com o de
outras publicações da época, a exemplo da paranaense Joaquim e da carioca Orfeu?
SA: Não tenho toda a coleção da revista Clã, que teve trinta números (o último é
o 29, mas houve um número zero antes do número 1), mas, com base nos números
que possuo e nas obras de vários do grupo escrevi um capítulo de mais de 70
páginas sobre o grupo Clã em meu livro Literatura
cearense (1976). E, como tenho repetido exaustivamente, considero o Clã
responsável pela implantação definitiva do Modernismo no Ceará nos anos 40. Se
Antonio Girão Barroso ostenta traços do primeiro Modernismo ao lado de poemas
concretos e Aluízio Medeiros tem notas surrealistas e chega quase ao poema “Práxis”,
Artur Eduardo Benevides, a princípio schmidtiano, tem a maior parte de sua
poesia na dicção da Geração de 45. Conheço inúmeros periódicos do Modernismo
brasileiro, mas não as que você cita.
FM: Confesso aqui que também eu não conheci a
publicação paranaense. Se a ela fiz referência é porque a encontrei citada por
Gilberto Mendonça Teles, em seu Vanguarda
européia e Modernismo brasileiro (12ª edição, 1994), que curiosamente não
faz menção à revista Clã. Quanto à
carioca Orfeu, foi fundada em 1947,
por Fernando Ferreira de Loanda, Fred Pinheiro, Ledo Ivo e Bernardo Gersen –
tendo abrigado amplamente os nomes vinculados à Geração de 45. Seguindo em
nossa conversa, observo tanto quanto nos momentos iniciais da poesia de João
Cabral e Ledo Ivo, é possível identificar uma forte influência do Surrealismo
na obra de Francisco Carvalho e José Alcides Pinto. Em grande parte, graças à
hegemonia do Concretismo – “o prestígio e a influência patroladora dos [irmãos]
Campos”, segundo Gilberto Mendonça Teles –, não circulou entre nós o
Surrealismo com a mesma força com que ocorreu em outros centros
latino-americanos. Dentro da literatura cearense é possível identificar outras
circunstâncias – penso em sua referência ao Aluízio Medeiros – que possam ser
vinculadas ao legado surrealista?
SA: No Ceará, que eu lembre, além dos três poetas
citados (Aluízio Medeiros, Francisco Carvalho e José Alcides Pinto), há
momentos que me parecem surrealistas em Artur Eduardo Benevides quando diz, por
exemplo, que a solidão, “fêmea marinha”, é “grande gato amarelo comendo mil
guitarras”. Talvez em Iranildo Sampaio também. E nem preciso falar de você
mesmo, uma vez que Assis Brasil, n’A
poesia cearense no século XX, fala explicitamente de sua “adesão ao
Surrealismo”.
FM: Seu nome encontra-se diretamente vinculado ao
estudo crítico da literatura cearense. Neste sentido, são de extrema
importância, além daqueles que aqui já citamos, livros como Dez ensaios de literatura cearense
(1985) e Novos ensaios de literatura
cearense (1992), onde encontramos avaliações relevantes da obra de Rachel
de Queiroz, Moreira Campos, José Alcides Pinto, Milton Dias e Francisco
Carvalho. São também de importância fundamental algumas edições de autores
cearenses organizadas por você, como é o caso recente de Poesia completa, de Aluízio Medeiros (1996). Contudo, limitando o
raio de ação de sua visão crítica ao âmbito da literatura cearense, não
acredita correr o risco da repetição ou – o que seria ainda pior – do
afrouxamento desta visão crítica, desgastando-a na avaliação de obras de menor
importância?
SA: Você mencionou apenas escritores contemporâneos (aos quais eu acrescentaria Otacílio Colares, Artur Eduardo Benevides, Linhares Filho, Luciano Maia e Nilto Maciel, sem falar em Jáder de Carvalho e Edigar de Alencar, todos estudados nesses livros), mas faço questão de acentuar que, embora contemple volta e meia a obra de autores atuais, a minha preocupação maior é com os escritores do passado, notadamente os pouco estudados. Na verdade, meu objetivo tem sido uma revisão da nossa história literária. Mas, apesar de considerar praticamente encerrado esse trabalho (meu próximo livro, a ser publicado brevemente, é Para uma teoria do verso; além disso, estou escrevendo uma biografia de Adolfo Caminha e há anos trabalho num livro sobre o Parnasianismo brasileiro, tão pouco compreendido hoje quanto o Simbolismo antes do trabalho de Muricy), penso haver dado minha contribuição ao estudo da Literatura Cearense e me satisfaz o fato de haver revelado textos desconhecidos de Joaquim de Sousa (notável poeta romântico), Paula Barros, Américo Facó e outros. Mesmo havendo publicado alguma coisa em São Paulo, no Rio de Janeiro e até em Portugal, contento-me em ser um escritor estadual, ou mesmo municipal…
SA: Você mencionou apenas escritores contemporâneos (aos quais eu acrescentaria Otacílio Colares, Artur Eduardo Benevides, Linhares Filho, Luciano Maia e Nilto Maciel, sem falar em Jáder de Carvalho e Edigar de Alencar, todos estudados nesses livros), mas faço questão de acentuar que, embora contemple volta e meia a obra de autores atuais, a minha preocupação maior é com os escritores do passado, notadamente os pouco estudados. Na verdade, meu objetivo tem sido uma revisão da nossa história literária. Mas, apesar de considerar praticamente encerrado esse trabalho (meu próximo livro, a ser publicado brevemente, é Para uma teoria do verso; além disso, estou escrevendo uma biografia de Adolfo Caminha e há anos trabalho num livro sobre o Parnasianismo brasileiro, tão pouco compreendido hoje quanto o Simbolismo antes do trabalho de Muricy), penso haver dado minha contribuição ao estudo da Literatura Cearense e me satisfaz o fato de haver revelado textos desconhecidos de Joaquim de Sousa (notável poeta romântico), Paula Barros, Américo Facó e outros. Mesmo havendo publicado alguma coisa em São Paulo, no Rio de Janeiro e até em Portugal, contento-me em ser um escritor estadual, ou mesmo municipal…
FM: Ao referir-me tão-somente aos nomes arrolados na
pergunta anterior, não o fiz estabelecendo nenhum critério de valor – embora
confesse minha preferência por eles, e nunca pelos que você menciona a título
de complemento de minha lista, excetuando parcialmente a poesia de Edigar de
Alencar e a prosa de Nilto Maciel –, mas sim evitando cair num acúmulo
exaustivo de nomes. Mas voltando a seu interesse maior, o de resgate histórico
de obras fundamentais perdidas no tempo, caídas em esquecimento, recordo que
Adolfo Caminha, em suas Cartas literárias
(1895), escrevia: “Nada de Simbolismo: Verlaine está proibido na imprensa
nacional. Um poeta de talento não pode escrever versos errados e papa Verlaine
(ó manes de Castilho!) ‘erra’ desgraçadamente.” Está claro que mostrava sua
simpatia em relação ao Simbolismo, ao mesmo tempo em que disparava contra o
triunfo da mediocridade. O que nos traria hoje, no sentido de uma iluminação de
nossa cultura literária, uma biografia de Adolfo Caminha?
SA: Nem sempre, nas Cartas literárias, Adolfo Caminha demonstra simpatia pelos
simbolistas, chegando mesmo a desejar que Artur Azevedo escreva uma obra nova,
que “fosse um exemplo, uma lição para essa mocidade que anda se iludindo com os
simbolismos de uma arte falsa e pobre, rebuscada em Verlaine” (p. 197). Quanto
à ideia de fazer uma biografia do autor de A
normalista, é o caso de eu perguntar por que uma biografia de Zola, ou de
João do Rio, ou de Assis Chateaubriand, ou de Garrincha, ou ainda de Noel Rosa
ou de Orestes Barbosa. Creio que qualquer pessoa que atinja a fama, seja na
literatura, no jornalismo, no esporte ou na música popular desperta o interesse
do leitor para sua vida. Só no campo da literatura brasileira, há várias
biografias de Fagundes Varela, de Castro Alves, de José de Alencar, de Machado
de Assis e de Olavo Bilac. Penso que Adolfo Caminha, que tem tido pelo menos
dois romances reeditados ao longo dos tempos (A normalista e Bom-crioulo),
e cuja vida, apesar de relativamente breve, tem lances algo dramáticos, está
merecendo a homenagem de uma biografia, naturalmente com alguns comentários a
respeito de sua obra.
FM: Você disse que o Parnasianismo brasileiro é “tão pouco compreendido hoje quanto o Simbolismo antes do trabalho de Muricy”. Esta má compreensão teria a ver com uma opulência vocabular sacrificando a própria expressão das ideias, característica bastante peculiar ao Parnasianismo, chegando mesmo ao que Franklin de Oliveira denomina de “promiscuidade retórica”? Ou acaso seria outra a razão de sua errônea avaliação histórica?
SA: Na verdade, há vários tipos de incompreensão. O Parnasianismo desempenhou um papel de certa forma antipático: estética dominante, como que abafou o aparecimento do Simbolismo que, mesmo dispondo de revistas, não conseguiu impor-se. Mas aqui entra a primeira incompreensão: o fato de os simbolistas não haverem atingido o público (enquanto Bilac era lido e até decorado) prova que o Parnasianismo não foi aquela corrente impassível que nem na França conseguiu ser sempre. Por outro lado, a culpa disso não cabe aos parnasianos, mas aos próprios simbolistas que, com seu vocabulário cheio de arcaísmos e neologismos, fecharam-se na famosa “torre de marfim”. Outra incompreensão é a afirmação de que os chamados parnasianos, porque atingiram o grande público, eram superficiais, pois como lembrou Alceu Amoroso Lima, Bilac reuniu, “em torno de sua musa, um entusiasmo, ao mesmo tempo culto e popular, só comparável, antes dele, ao de Gonçalves Dias e de Castro Alves e, depois dele, a ninguém mais”. Outra incompreensão diz respeito a Alberto de Oliveira: Sílvio Romero disse uma vez que ele era “o parnasiano em regra, extremado, completo, radical”, e isso, que vale apenas para uma parte de sua volumosa obra, é repetido até hoje, ainda agravado com a mania que os autores de livros didáticos têm de reproduzir o famigerado “Vaso grego”, em que os hipérbatos me parecem mais barrocos do que parnasianos. Leia “Alma em flor”, poema composto de vários poemas menores, de versos trabalhados mas de emoção puramente romântica, e se verá que não é correta a generalização. Isto eu demonstro em Apolo versus Dionisos (1978), opúsculo de pouca repercussão, apesar de ter merecido um comentário de Domingos Carvalho da Silva na Revista de poesia e crítica, de Brasília. Diz-se que Alberto é só forma, sem lembrar, por exemplo, “O pior dos males”: enquanto Vicente de Carvalho dizia que “só a leve esperança, em toda a vida, / disfarça a pena de viver, mais nada”, Alberto de Oliveira diz: “Ela é o pior dos males que há no mundo, / pois dentre os males é o que mais engana”. Já se falou também na falta de originalidade do poeta, e eu lembro o soneto “Ironia”, em que o poeta, ao falar de um vidro quebrado, diz que ele “parece estar-se a rir de estar ferido”. Quanto a Raimundo Correia, outro grande poeta (que forma, com Bilac e Alberto, a famosa “trindade” da corrente), foi considerado plagiário (por causa do “Mal secreto”, bebido em Metastásio e de “As pombas”, inspiradas em Gautier), mas tem sido poupado, talvez pelo fato de Manuel Bandeira, secundando João Ribeiro, o considerar o maior dos três, opinião não seguida por Ivan Junqueira que, a meu ver, incorre em falha no julgamento que faz de Alberto de Oliveira. A verdade é que de qualquer corrente estética (sem exceção) não é difícil sair catando momentos mais infelizes para fundamentar argumentos equivocados.
FM: Você tem uma teoria do verso a ser brevemente
publicada. Até que ponto ela contempla as diferenças entre prosa e poesia? Que
lugar encontra em sua teoria o poema em prosa, largamente cultivado pela
modernidade?
SA: A proposta do livro se encontra no próprio título: Para uma teoria do verso. Assim, limito-me a falar exclusivamente do verso, que já é um campo bastante vasto, deixando a prosa para quem queira estudá-la. No que toca ao poema em prosa, tão praticado a partir de Baudelaire, por mais poético que seja será sempre prosa, fora, portanto, de minhas cogitações nesse livro. Gostaria de acrescentar que ainda aqui não me afasto da visão histórica, pois estudo os versos dentro das correntes estéticas, ou estilos de época, razão por que jamais uso a expressão versificação tradicional, tão comum em trabalhos dessa natureza. É que, segundo demonstrou Péricles Eugênio da Silva Ramos, a metrificação de nossos românticos (e dos poetas anteriores) era a espanhola, em que se contava uma sílaba além da tônica final, o que, nos versos compostos, dava resultados que os parnasianos não entendiam e por isso consideravam simplesmente erro, o que, diga-se de passagem, tem tido repercussões até hoje. Faço questão também de desfazer o equívoco de que foi Mário Pederneiras quem primeiro fez verso livre no Brasil, quando o que ele usava era a polimetria.
*Floriano Martins (Ceará, 1957) é poeta,
editor, ensaísta e tradutor. Dirige a Agulha
Revista de Cultura (www.revista.agulha.nom.br)
e colabora semanalmente com o DC Ilustrado (Diário de Cuiabá) com uma série de entrevistas que futuramente
reunirá em livro intitulado Invenção do Brasil. Contato: arcflorianomartins@gmail.com.
quinta-feira, 26 de julho de 2012
"Batman contra James Holmes", por José Alves, para o AlmanaCULTURA.
Ninguém
consegue explicar nos EUA como aquilo pode ter acontecido, como foi possível
que o Batman não tenha chegado a tempo de evitar a tragédia que se aproximava em
seu cenário de ficção, uma sala de cinema em Denver, Colorado. Mas o certo é
que até o próprio herói mascarado, surpreendido no dia de sua estreia, foi
incapaz de reagir a tão contundente ataque, logo de um de seus milhares de fãs.
Talvez ele estivesse esperando outro tipo de inimigo, além dos famigerados e
antipáticos Coringa, Charada, Pinguim ou da fatal mulher gato: provavelmente
esperava um hollywoodiano “terrorista” árabe ou iraniano, um guerrilheiro
colombiano ou zapatista mexicano, um agente russo ou chinês que, como os
terroristas de 2001, tivessem conseguido burlar todas as agências de segurança
nacionais do império para, invejosos que são, atacar em Gotham City. Mas também
não é a primeira vez que o “nosso” herói Batman se equivoca.
O
jovem James Holmes é apenas o último nome de uma extensa lista de assassinos de
pele branca ou clara com sobrenome irreprimível de “boa família” tradicional
ianque, que não precisou burlar qualquer controle de segurança para entrar em
território norte-americano e perpetrar sua matança porque já estava sendo
gestado dentro das entranhas do próprio monstro e também porque, provavelmente,
nunca saiu de lá para conhecer outras realidades socioculturais, como a
mexicana, a colombiana ou brasileira. Para que, se a “América” é
auto-suficiente e com o olhar da CNN e da Fox News ele podia “entender” as
coisas em outras latitudes?
James
Holmes é, afinal de contas, como muitos outros compatriotas seus, a própria imagem
e semelhança do “Batman”, do “Superman”, do “Spiderman” ou do “Rambo”, sempre
preparados para enfrentar e vencer os “inimigos da América” e também deve ter
passado a maior parte de sua infância e juventude em “Lan House” ou mesmo em
casa jogando “game” com seu super herói preferido. Povo que elege Arnold Schwarzenegger
governador da Califórnia é povo que vive a realidade como os personagens de
ficção. É a arte imitando a vida, afinal de contas. Não será ao contrário, no
caso?
O
nosso personagem James Holmes, ao matar 12 cinéfilos e ferir dezenas de outros
numa sala de Denver, não era nem de longe originário do Yemen ou do
Afeganistão, muito menos membro de uma célula dos “arquiinimigos” adeptos de
Bin Laden e de sua Al Qaeda (finalmente “eliminado” por Obama e jogado em alto
mar), esses que causaram, em “conluio” com Saddam Hussein, o derrubamento
sincronizado das Torres Gêmeas em 2001. Ele é um típico gringo nascido no
pós-guerra fria e no estado do Tennessee.
Holmes
(é ou não é nome de araponga?) muito menos professava a religião muçulmana ou a
hinduísta, nem se dedicava aos cultos satânicos, muito populares naquelas
terras nórdicas. Com seus viçosos 24 anos ele era, isto sim, de uma família de
classe média e fiel da igreja protestante, estudava medicina na Universidade de
San Diego, Califórnia, onde frequentava o núcleo de neurociências. Logo de
neurociência? Ao contrário, não vestia babuchas nem colocava turbantes, e sim o
clássico “jeans” e bonés com emblemas esportivos tão popularizados mundo afora
até chegar a terras tupiniquins dos acangabepas. Muito menos assistia a
programas de televisão de canais árabes como Al Yazira, e, sim, a CNN.
O
nosso cowboy ianque não comia quibes ou pão árabe. Para que, se para ser feliz
é suficiente abocanhar diariamente hamburgueres, sanduíches e batatas fritas
acompanhadas com uma dessas populares garrafinhas de cerveja ou da
“insubstituível” Coca-Cola. Essa sim, não pode faltar de jeito nenhum, nem lá
nem cá. Claro que também não calçava sandálias, mas o tênis de US$ 400,00 ou
US$ 1.000. Para nem falar em celebrar coisas “exóticas” como o ramadã ou o ano
novo chinês. Para que se o 4 de julho é “superior” a qualquer outra “coisa” que
se comemora em outros “obscuros rincões” do planeta? Holmes nunca leu ou sequer
ouvir falar no Corão, mas sua família provavelmente assina ou lê o Washington Post ou, se for um pouco mais
exigente intelectualmente, o New York
Times.
O
nefasto personagem James Holmes nunca foi um estudante meritório de nenhuma
madrassa talibã ou escola corânica, e, sim, frequentador de “campus” de uma
simples e comum universidade ianque. Não era mesmo simpatizante da Al Qaeda ou
da Jirad Islâmica, muito pelo contrário, aprendeu desde cedo a odiá-las como os
piores inimigos da humanidade, invejosos obstinados em destruir o “american
dream” e impedi-lo de frequentar seu cineclube local.
Nunca
jamais imaginou ou desejou algum dia peregrinar na cidade sagrada de Meca ou
tomar banho no rio Ganges. De qualquer maneira, Holmes já tinha feito algumas
excursões de montanha como “boy-scout”.
O
super herói (ou será vilão?) James Holmes não foi sequer detectado em nenhum
aeroporto, mesmo com as sofisticadas medidas de segurança de que dispõem as
autoridades do país dos ianques para prevenir ataques terroristas estrangeiros,
porque ele é um típico estúpido homem branco, um típico Homer Simpson, com
idade mental entre 6 e 12 anos, mas que adquire armas legalmente com a
facilidade de quem compra farinha nas feiras livres de Fortaleza e do interior,
bastando apresentar a identidade. E nem ouse Obama ou qualquer democratazinho
financiado direta ou indiretamente pelo intocável lobby representado pela
poderosa Associação Nacional do Rifle, falar em restringir o acesso a armas de
fogo a que “qualquer” cidadão, constitucionalmente, tem direito, um tabu
inexpugnável naquela sociedade alienada de tangedores de boi, cheiradores de pó
e fumadores de Maria Juana.
José
Alves
Professor,
tradutor e pesquisador em América Latina
sábado, 21 de julho de 2012
"Coisas Engraçadas de Não se Rir XXI: Ensaio para Crônica", de Raymundo Netto para O POVO (18.9)
No
Brasil, podemos afirmar que a crônica está para a literatura, assim como o
samba está para música. Afinal, quem não gosta de samba bom sujeito não é; quem
não gosta de crônica também não.
O fato é:
nossas crônicas, todas as boas ou todas as más, mesmo as falsas e as miseráveis,
parafraseando um Chico, como nossos sambares, serão bonitas, não importa são
bonitas.
Há de
boçais pregarem ser a crônica um gênero menor. Isso é bobagem. Gênero menor é o
conto, onde se dá por escrever menos. E o que dizer da poesia, uma
garatujazinha trepada em degraus em proposta frustrada do indizível?
In verbis ou on verbis, contextualizada a questão de quem nasceu primeiro, se o
ovo ou a galinha, arriscamos afirmar que foi a crônica, e que esta não é pinto
não.
O
também cronista popular Pedro Salgueiro, atento aos meus desastres de vida,
costuma dizer: “Rapaz, tinham que inventar um emprego de ‘fazedor de sala’...
Acho que nele você se daria bem.” Pois é, não de emprego, mas escrever crônica
é meio que fazer sala, bater papo, conversar. Advirto, entretanto, que a
escrita poupa o leitor da decepção presencial daquele indivíduo muitas vezes
mais interessante por trás de suas palavras. Aquele que, num primeiro ou
segundo momento, há de revelar o pensamento disperso, de engolir as últimas
sílabas quase impronunciáveis, de gaguejar em digressões extensas sem hora de
ter fim, ou de, subitamente, mostrar a face apática de quem se apercebe a
qualquer instante que falar sobre a mais bruta bobagem pode ser mais
interessante do que versar sobre teorias literárias, acordos ortográficos e
gêneros textuais.
Por
outro lado, o cronista, por excelência, é um bom ouvidor. Aliás, andar em
ônibus e ouvir a conversa alheia são alguns dos instrumentos de trabalho do
cronista. Ler jornais, ouvir rádio, prestar atenção nos feitos de outrem, seja
numa agência bancária, num banco de praça, em restaurante, em corredores de
hospitais e mesas de bares, também ajuda. Em contradição, a falta de assunto é,
de longe, um dos melhores e mais frequentes estímulos para o autor. Diante
dela, do branco evidencial, cria-se de um tudo, a partir sempre da recorrente constatação:
não sei mais o que escrever! (e eu preciso mesmo?)
O
Airton Monte, o cronista diário de O POVO, que o diga. Dias há em que conversa
até com as formigas na calçada para extrair-lhes alguma doçura, mesmo que esta,
a todo esforço, ainda vingue por adoçante.
Daí, o
cronista, como convidado do café da manhã de seus leitores, ter a oportunidade
de salvar o dia ou azedá-lo completamente, a partir de uma piada bem colocada ou
da constatação inequívoca de nossa total inabilidade e incompatibilidade para viver
neste mundo – existem outros, acredito.
E é
nisso, enfim, que reside ainda a possibilidade da crônica, no seu fazer, que
deveria ser de todo assim: olhando no olhos, puxando firme o cabelo à
altura da nuca, dando ordens ao pé da orelha, e, se couber, dando uns tapinhas,
com toda a gentileza que só quem traz um amor pode entender.
"Quantas de Nós" no Bazar das Letras do SESC (31 de julho)
Clique na imagem para ampliar!
"Quantas de Nós" no Bazar das Letras do SESC
Dia 31 de julho (terça-feira), às 19h
Local: Teatro SESC Emiliano Queiroz (em frente ao DNOCS da Duque de Caxias)
Mediador: Carlos Vazconcelos
“Os
estilos são variados, assim como os temas. Para o leitor, então, mesa farta e
diversificada. Servir-se acaba sendo uma degustação prazerosa e com muitas
opções de sobremesa. Os homens deveriam ler este livro (aqui se fala muito
deles, talvez uma tentativa de falar com eles). Nos contos de cada uma, há
caminhos ou pistas para se chegar até elas, em imaginários e compleição
diversos: delicadas, devassas, entristecidas, loucas, aladas.”
Sarah Diva,
escritora e professora de Literatura UECE.
“É um universo
cheio de curvas – algumas suaves, outras drásticas. A estrada às vezes corre
tranquila, embora nunca monótona. O caminho também pode se estreitar, no
convite à vertigem. As autoras são dinâmicas e sinuosas, brincam de ciranda,
modulam e confundem suas vozes. O leitor que abrir a antologia estará no começo
de suas surpresas. Vai experimentar o bom espanto que a literatura traz todos
nós.”
Tércia Montenegro,
escritora e professora de Linguística da UFC.
As Autoras:
Carmélia Aragão – Autora de Eu
vou esquecer você em Paris (III Edital de Incentivo às Artes, da SECULT,
2006). Mestre em Literatura Brasileira (UFC). Doutoranda em Literatura (PUC).
Cleudene Aragão – Mestre em
Literatura (UFC). Professora de Língua e Literatura Espanholas do Curso de
Letras e do Programa de Pós-Graduação em Linguística aplicada da UECE.
Inês Cardoso – Professora de Língua e
Literatura Espanholas (UFC). Mestre em Literatura Brasileira e Doutoranda em
Literatura Espanhola. Publicou Cicatrizes submersas d’Os Sertões, Descartes
Gadelha e Euclides da Cunha.
Maria Thereza Leite – Pós-graduada em
Teorias da Comunicação e da Imagem (UFC). Foi jornalista do caderno O Globo Feminino e da revista Boletim Cambial, no Rio de Janeiro.
Vencedora de vários prêmios literários. Publicou: Mosaicos e Passagem
Secreta para a rua (ambos de contos).
Ruth de Paula – Doutora em Educação Brasileira
(UFC). Publicou Chuva, Sol, Sombra e sombrinha (crônicas).
Vânia Vasconcelos – Doutoranda na
UNB, professora da FECLESC/UECE. Publicou: Mergulhos (crônicas), Desvios
(contos) e Chão de Infância (infantil).
quinta-feira, 19 de julho de 2012
"Coração de Bolso", Raymundo Netto (19.07)
O coração pulsava no seu
bolso, via-se.
Tangia as cordas
bicúspides e sangrava por dentro, passava num quase acreditar, num quase que
morrer de amor. Vinha.
Debulhado em sonhos,
postos com talheres à mesa, servido em ilusão cozida, ali, na hora, ao ponto de
gritar a bulha rouca e derradeira.
O coração pulsava em seu
bolso, o esquerdo, alto com listas vermelhas.
Era de dar dó, de dar ré
e, não para trás, mi. Fá solar sem dó.
O coração lhe estava a
pensar a vida, doente dela, apatiático, apertando o punho amargo de lembranças
como a chuva, no sereno ciano de um céu de entrelinhas de papel.
No cardial desejo
ruminava o vão do corredor da horta, e da porta, o trinco.
Gritava o grito mudo como
estalo dos cascalhos largados no fundo mais profundo de seu esquecimento de não
(mais) amar. Gritava ao mar.
As ondas respondiam-lhe
sempre que não, enquanto o céu deitava em suas costas no horizonte expectante
de uma tarde em solidão: Não!
As calçadas o guiavam na
mosaicidade de passos e pensamentos, corpos enlevos de volúpias, corpos nus de
alabastro, garatujas forrando papéis amarelos, deitadas em camas pequenas cobertas
por colchas desfiadas por patas de gatos sonolentos.
O coração inda pulsava em
seu bolso, numa incerteza arteriosa e dolente, absolvido de suas culpas venais,
não tão suas, não tão duras, não tão quentes, envolventes e coisas e tais.
Maçado em seu ponto, o
contraponto, o marcapasso e compasso, a sentença de sua costelação sem luz d’alva.
O sangue bruto vinha-lhe
vermelho, a amiudar o amor mais de perto, tornando tintas as paredes e teto, os
encanamentos e encantamentos, mole como doce do açúcar, molhado como beijo de
saudade, inesquecível quanto bilhete marcando página de agenda.
Ah, e era então quando o
coração calava o peito tão sincero, a ouvir de ela chegar, no zero, a ultrapassar
a porta e o olhar, o sorriso derramando da boca, a voz do bom-dia, e a razão do
incerto desse mundo a suturar seus cortes com fios de única alegria.
domingo, 15 de julho de 2012
"Canção pra Não Voltar", A Banda Mais Bonita da Cidade
http://www.youtube.com/watch?v=kTS64qgHuIo (para ver o clip no YouTube)
Não volte pra casa, meu amor, que
aqui é triste.
Não volte pro mundo onde você não
existe.
Não volte mais.
Não olhe pra trás,
Mas não se esqueça de mim, não.
Não me lembre que o sol nasce no
leste e no oeste morre depois.
O que acontece é triste demais,
Pra quem não sabe viver, pra quem não
sabe amar.
Não volte pra casa, meu amor, que a
casa é triste.
Desde que você partiu, aqui nada
existe,
Então, não adianta voltar,
Acabou o seu tempo, acabou o seu mar,
acabou seu dia,
Acabou, acabou...
Não volte pra casa, meu amor, que
aqui é triste.
Vá voar com o vento que só lá você
existe.
Não esqueça que não sei mais nada,
Nada de você.
Não me espere, porque eu não volto
logo;
Não nade, porque eu me afogo;
Não voe, porque eu caio do ar.
Não sei flutuar nas nuvens como você.
Você não vai entender
Que eu não sei voar
Eu não sei mais nada!
quinta-feira, 12 de julho de 2012
I Feira Brasileira do Cordel, no Dragão do Mar (17 a 19 de julho)
Clique na imagem para ampliar!
I
FEIRA BRASILEIRA DO CORDEL
Data: 17, 18 e 19 de julho
Horário: Das 16h às 21h30
Local: Centro Dragão do Mar
de Arte e Cultura
Informações: 3217-2891 |
9675-1099
aestrofe@gmail.com
Mais sobre a Feira:
A
Literatura de Cordel está com a corda toda. Gênero literário surgido no
Nordeste, o Cordel teve em Leandro Gomes
de Barros (1865-1918), paraibano de Pombal, seu primeiro grande difusor e
seu criador mais ilustre. Autor de clássicos que se imortalizaram em mais de um
século, a exemplo de Juvenal e o Dragão,
O Cachorro dos Mortos e A Donzela Teodora, Leandro é a
referência maior da atual geração de cordelistas, na qual brilham nomes como o
de Klévisson Viana, Rouxinol do Rinaré, Arievaldo Viana e Marco Haurélio.
É
justamente Klévisson Viana, cearense de Quixeramobim, poeta popular, editor e
ilustrador, o idealizador da I Feira
Brasileira de Cordel, que terá como palco o Centro Cultural Dragão do Mar,
um dos espaços culturais de Fortaleza. Entre os dias 17 e 19 de julho, a
capital cearense receberá alguns dos mais representativos criadores da poesia
popular, entre os quais os baianos Bule-Bule e Marco Haurélio, os paraibanos
Chico Pedrosa e Chico Salles, o carioca Fábio Sombra e o pernambucano Marcelo
Soares. O Ceará estará muito bem representado nas vozes dos consagrados
repentistas Geraldo Amâncio e Zé Maria de Fortaleza, além de rodas de
declamação com Paulo de Tarso, Rouxinol do Rinaré, Francisco Melchíades,
Lucarocas, Arievaldo Viana, Evaristo Geraldo e o curador do evento, Klévisson
Viana.
A
primeira edição da feira homenageará os cem anos de nascimento de Joaquim
Batista de Sena, um dos maiores cordelistas de todos os tempos e estarão expostos à venda folhetos e livros
de várias editoras, como Tupynanquim, Nova Alexandria, Luzeiro, Conhecimento,
Hedra, Coqueiro, além das entidades apoiadoras, como a ABC (Academia Brasileira
de Cordel), CECORDEL (Centro de Cordelistas do Nordeste) e ILGB (Instituto
Leandro Gomes de Barros).
A
realização do evento se tornou possível a partir da seleção do projeto da
AESTROFE (Associação de Trovadores, Folheteiros e Escritores do Ceará) pelo
Prêmio Mais Cultura de Literatura de Cordel, no ano de 2010.
"Da Preguiça como Método de Guerrilha", de Pedro Salgueiro, para O POVO (11.09)
Desde que me entendo por gente sou um sujeito
lesado. Minha mãe diz ter suspeitado até quase o oitavo mês de que eu não
nasceria, tamanha era minha imobilidade intrauterina: não chutava, não me
virava, permaneci (para desespero dela e do médico) quietinho até a véspera do
parto. Até a véspera não, até a hora exata, pois mesmo já enxergando a luz
forte vinda da janela do quarto de minha avó ainda aproveitei para uma última e
descompromissada cochiladinha dentro daquele líquido quentinho.
Claro, não sou bobo, que nasci a fórceps.
Cresci um menino mofino: vivia pelos cantos
coçando a cabeçona cheia de lêndeas. Por conta disso levei muitos cascudos de
meu pai, bastantes gritos de minha mãe, além de mangação dos amigos e irmãos.
Em compensação, na escola eu era o mais comportado. Não por convicção, verdade
se diga, mas por puro comodismo, preguiça mesmo de fazer bagunça. Logo, fui me
tornando um adolescente atípico, preferia músicas lentas, ambientes
despovoados, colegas tristes, os esportes menos radicais. Jogar bila e soltar
arraia eram minhas brincadeiras preferidas, nelas desenvolvi grandes
habilidades. Mesmo no futebol, esporte obrigatório no colégio e no bairro,
escolhi (claro) a posição de “beque parado”: compensava com um bom passe a minha
total falta de mobilidade.
Nunca entendi por que me apelidaram de
“coqueiro”, que não foi o pior dos muitos apelidos que levei pela vida afora.
“Marcha lenta”, “Devagar com câimbra”, “Recordista de cem metros rasos para
tartarugas” e mil outros mais. Se na época já se falasse em bullying, eu seria um caso a ser
estudado pela universidade.
Mas graças a Deus me tornei um adulto
tranquilo, me casei cedo... porque sempre fui caseiro, para desespero dos de
casa. Tenho um verdadeiro fascínio por televisão, que minha adorada esposa diz
(sem dó) ser o vício predileto dos malandros. Também adoro livros, muito embora
passe meses para terminar um reles voluminho de contos. Poesia é minha
preferência, haicais especialmente. Com o tempo fui me aventurando pela prosa,
contos e crônicas sempre, romances jamais. Até arrisco escrever alguns
minicontos e ganhei diversos concursos literários. Ah, sim, meu livro preferido
é Da preguiça como método de trabalho,
do mais que “acomodado” e querido poeta Mário Quintana, e a música que vivo
cantarolando por aí é Soy latino
americano, de Zé Rodrix, um “molenga” convicto.
Concluí a faculdade de Turismo em longos doze
anos, quase o triplo do tempo permitido e quando já havia recebido vários
avisos ameaçadores da coordenação. Mas terminei, mesmo tendo que ir colar grau
em data especial, pois esqueci o dia da solenidade. E como todo bom
“descansado” passei mais alguns anos pensando num emprego que se adaptasse ao
meu ritmo, que com a ajuda de amigos e familiares não foi lá muito difícil.
Hoje sou um modesto funcionário público, que cumpre todo santo dia o calvário
de bater ponto, não sem contar (e marcar no calendário sobre a mesa)
religiosamente os dias que faltam para a minha tão sonhada (e ainda distante)
aposentadoria.
Atravessando a meia idade vou adquirindo o
meu ritmo ideal, pois o avançar dos anos vai me concedendo os álibis
necessários para uma vivência mais tranquila.
Mas para fechar minha penosa missão aqui na
terra decidi finalmente fazer um mestrado, sonho antigo de quando ainda
terminava a faculdade (e lembrado até a exaustão por minha família em muitos
enchimentos de saco). Escolhi o tema, soletrando na cartilha de Dom Gilberto
Freyre e rezando na igreja de São Cascudo: a lenta e eficientíssima guerrilha
(mais eficiente que o magistral pacifismo de Ghandi) movida pelos nossos
“preguiçosos” indígenas contra o ganancioso explorador europeu que aportou em
nossos “tristes trópicos”. Tática tão eficiente que os forasteiros tiveram que
recorrer ao continente africano para conseguir mão de obra escrava para seus
nefastos projetos. Até escolhi (mentalmente, claro) a bibliografia a ser usada
e, principalmente, já elegi a eficientíssima arma (e símbolo) usada pelos
nativos em seu paciente (e vitorioso) empreendimento – A REDE, esse que talvez
seja o símbolo maior dessa maravilhosa guerrilha e com o qual nosso primeiro
habitante enfrentou e venceu o poderoso inimigo. Objeto lúdico e mortal que,
hoje em dia, apenas o pobre Estado do Ceará usa.
P.S.: Até já teria começado a rabiscar as
primeiras linhas de meu projeto, não fosse a encomenda de uma croniqueta de
duas páginas sobre a “preguiça”, feita por este prestigioso jornal, que me
consumiu os meses de maio e junho todinhos, e que talvez ainda me levem uns
bons dias de revisão.
"Pesadelo", conto de Carmélia Aragão, para AlmanaCULTURA
Pesadelo
Existe um desconforto entre mim e meus
pensamentos. Um exagero de palavras ou de hipérboles mudas, às vezes. Sonhei,
por exemplo, que voltava à cidade onde passei a infância. Na estrada encontrava
roupas e sapatos dentro de uma sacola de plástico. Um vestido preto de cetim,
sujo de sangue, um sapato de salto também preto e me vesti com essas roupas. Um
carro para. Era um padre que nunca vi antes, dizendo-me que a dona daqueles
pertences estava há meses desaparecida. Como sabia?Ele a teria visto pela
última vez? Ele a despira e jogara fora o vestido e os sapatos. Entro na
cidade, o carro some, as pessoas não me veem, tento alcançar a casa de minha
avó, mas ambas não estão mais. Caio na ladeira que liga a rua a casa. Me rasgo,
não sinto meus braços, minha boca sangra, sinto meus dentes quebrarem, tenho
areia na boca. Escuto vozes de crianças. Não me veem. Estou desaparecida há meses, quem sabe, anos.
Qualquer sonho vira pesadelo. Abro os olhos o céu é cinza lá fora. A casa está
vazia. Ninguém me chama.
(C.07/04/12)
quarta-feira, 4 de julho de 2012
"Coisas Engraçadas de Não se Rir: O Terrível Capitão América", de Raymundo Netto para O POVO (4.7)
Tenho
muito desconfiança e receio dessa mania norte-americana, à vista grossa da cenográfica
ONU, de “assumir as dores de todo o mundo”, feito um indesejado Super-Homem ou
qualquer um desses heróis de meia-tigela que sobrevoam os céus de cuecas ao avesso
(nunca entendi isso) e o imaginário desse povo ególatra, ruim de geografia,
tarado por basquete e que enfeita tudo com gergelim, fritas e bacon.
Os Estados
Unidos, num “american dream”, enriqueceram na base do comércio e fabricação de
armas, ou de largos empréstimos para a sua compra, mantendo acesas as guerras e
o terrorismo no mundo, cúmplice silencioso em discursos de “piece and love”, fazendo o seu próprio terrorismo, o econômico-predatório,
o que devasta — sem comida, sem água, sem recursos e sem jeito — os países que
nem queremos saber que existem, pois são, em sua maioria, dominados por
ditadores broncos, líderes fanáticos, habitados por gente pobre, “atrasada”,
não-cristã e doente, repletos de pestes da moda (Aids/Sida, Ébola), ou mesmo as
históricas, já extintas nos demais países, e outras novidades. Esses povos que,
se escaparem de tudo isso, ainda lhes restará a fome, a sede, a violência, a
humilhação, o desprezo, o estupro, enfim, uma série de mazelas que não nos
dizem respeito porque somos “emergentes”, já fomos pobres, “zés cariocas”, hoje,
não, somos abençoados por Deus e bonitos por natureza, exclusive os milhares de
brasileiros que ainda não entenderam direito o tal “american way of life”.
São
muitas as histórias de personagens americanos que, por não agradarem a
inteligência pentagonal, acabaram “comendo capim” cedo, geralmente mortos por
tiros de um doido que vinha passando na rua e blá-blá-blá. Mistérios
indissolúveis do senhor Columbo, via “efibiai”, “siaiei” e “mibi” na série
“Acredite se Puder”.
Não vou
mentir. Senti-me enojado com o clima de celebração transmitido pela TV mundial,
via Casa Branca, após o assassinato do Mister Bin. Triste o ufanismo daqueles a
aguardar a desejada execução e a não surpreendente “vitória” americana — por
conta disso, em único dia, o Obama aumentou em 9 pontos a sua expectativa de
eleição, o dólar aumentou sua cotação e os índices da bolsa americana subiram.
E mais:
mataram a cobra e não mostraram o pau. Cadê o homem? Jogaram no mar, enrolado
em branco, respeitando-lhe os rituais da crença... Que comédia é essa?
Por
isso lembrei também de quando eles mataram o Che Guevara, este que hoje enfeita
as camisas dos revolucionários ou pseudo-revolucionários (pelo menos ajuda a
ganhar a mulherada na faculdade). A comemoração foi daí para melhor, com
direito a troféu e tudo (como aqui bem os imitaram com a exposição do
Marighela). Não estou comparando o Che com o Osama. Aliás, este cabra santo não
era — como não é o Obama nem o Lula —, mas não aceito que os Estados Unidos tomem
nas mãos a soberania de países alheios, principalmente quando inventam motivos
para destruir seus inimigos, às vezes, ex-aliados, às vezes, gente que sabe demais
(ou de mais). Sempre tão culpados de tanta coisa, têm, a seu favor, o poder da
imagem, o homem-aranha, os programas, os filmes, a Coca-Cola, o “Toy-Story” e,
infelizmente, o “Dr. Jivago”, que é russo.
Quando os
MacAmericanos, similares ao seu herói genocida Custer, invadiram o Iraque com a
justificativa de acabar com as armas químicas, tipo assim, “Putz, foi mal, não encontramos,
ó”, mesmo após tanta devastação, ainda fizeram desserviços à humanidade, como: saque
de milhares de objetos do Museu do Iraque (dentre eles, dezenas de esculturas
assírias em marfim); a destruição, por ação de bombas ou para serem
transformados em heliportos e estacionamento de veículos militares, de sítios
arqueológicos sumérios (povo que inventou a escrita em 3.000 a.C.); a perda do
acervo de manuscritos sobre a civilização mesopotâmica, por incêndio da
Biblioteca Nacional do Iraque no dia da conquista de Bagdá; danos ao Portão de
Ishtar, a entrada principal da Babilônia, que resistiu à destruição pelos
Persas no século VI a.C., mas que, ao povo norte-americano, se rendeu.
Cabe bem
daí a nossa atenção. Pode ser que um dia eles cismem em nos tirar alguma coisa —
nossos recursos naturais, por exemplo, que ninguém no mundo tem igual, mas que por
aqui desperdiçamos — e, no afã de nos proteger de nós mesmos, será um salvem-se
quem puder, “We are the World”, pois até parece que ninguém está conosco, se
eles também não estiverem. The End.