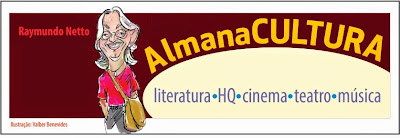Horas
após assistir à coreografia do fim, tomei porto em Vera Cruz num feriado de data
célebre, com direito a professores em greve, manifestações contra corrupção,
quarentões enrolados em bandeiras entre mulheres deslizando em isqueites. Festa
estranha com gente esquisita e eu, sim, um atávico “candango”, com aquela impressão
lunar de que “estava desembarcando num planeta diferente, não na Terra”.
Quando viajo,
seja onde for, sou de costume quedar-me um pouco no aeroporto, tomar um café
com o tempo de me habituar aos novos ares, afinal, aeroportos são tão iguais,
mesmo quando diferentes, como shoppings, que dão a ideia de que estamos sempre
por perto de casa.
Acho
maçante é esperar bagagem. Coisa chata e sem fim este balé de malas. Pior ainda
– nunca passei por isso – quando se extraviam, aproveitando o nosso descuido
para fugir de nós, uns “malas”, de fato, “sem alças”. Pois sim, à espera, eis
que surge a minha mala. Bem mais viajada do que eu, coitadinha, vinha tão feia
e cabisbaixa que nem acreditei fosse justo ela a minha. Flagrei uma moça bonita
apontar-lhe o sorriso nas feridas de guerra, ou quem sabe na fita amarela peguenta
a enrolar a sua alça. Não sei, de repente fui tomado por um orgulho besta e despropositado
e, assim, a acolhi em meus braços como se recebe a um fabuloso filho coruja,
mas logo na curva de um primeiro pensamento sabia já que, ao seu lado, nunca
mais.
“Dia de
festa”, foi o que me falou o Severino, um pernambucano aposentado da Embaixada
Americana que reside na cidade há 40 anos, dedicando-se hoje ao taxismo
autoviário.
O hotel
era bom e “frio”, como reza São Cristovão, padroeiro dos viajantes e taxistas.
Ali, duas camas: coisa que me dá a impressão de que estou mais sozinho do que
deveria estar. Mala, roupas, livros, papéis de bombons, cupons fiscais... a
cubro inteira de trecarias a ponto de esquecê-la.
Dias quentes,
sol tinindo na pele — esqueço de novo o protetor solar. Eu arrodeado de livros,
boa parte dos quais nunca leria, observando os histerismos das moçoilas por diários
de princesas, livros de meninas, de vampiros, piratas, feiticeiros. Rostos
desconhecidos andando para cima e para baixo se entupindo de açaí e comprando
quase nada. Um casal, ao lado, sorri e comenta ser ali um lugar de gente
inteligente... e chata!
Os
poetas locais reunidos em palestra se perguntavam — com a pouca audiência
presente era quase “se” mesmo — por que não conseguiam se projetar
nacionalmente. Questionavam existir uma literatura paulista, uma carioca, uma
brasiliense ou uma cearense (em dois momentos citaram Francisco Carvalho). Como
sempre, não se chegou à conclusão nenhuma.
Lá
fora, ao som de forró, a “bagaceira”. Gente de todo lugar vendendo, num extenso
calçadão, sanduíche barato, cerveja, refris ou o que se quisesse comprar.
Numa
tarde quente, fui embora, não num submarino do lago Paranoá, mas em avião, como
cheguei. Adoro voltar, gosto de ir, mas voltar é a melhor parte de tudo, mesmo
quando não se sabe exatamente para onde se está voltando.
De lá
de cima, é sempre assim, embaixo de uma montanha leve de suspiros, a nossa
cidade madruga linda, calma, regular, iluminada como uma criança a brincar de
“chuveirinho”, inodora, a gabar-se de amores na mais tranquila solidão
nacional.
Toca-me
uma tristeza, de fazer o peito quase rebentar, de quem ao voar descobre que no
mundo não há nada maior do que a asa de um avião.