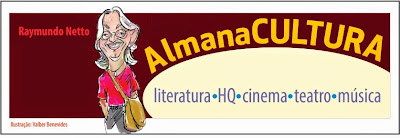Graças às bênçãos salvadoras de Apolo e das musas de plantão, para o gáudio de quem gosta de ler um bom livro, ainda existem escritores, não importa a sua nacionalidade, que escrevem tão bem, mas tão bem, que uma vez lidos, torna-se praticamente impossível deixar de lê-los e de relê-los regularmente, pelo prazer que nos proporcionam com boas histórias e ótimos enredos. Tais escritores de primeiro time são literalmente encantatórios como os encantadores de serpentes e prendem o leitor logo no alvorecer da primeira página. Todos eles são capazes de seduzir o leitor, por vezes, só pelo título do livro, e o leitor, depois de ser fisgado, não tem outra saída senão ir em frente na leitura, completamente fascinado até chegar o ponto final.
A relação entre um escritor e seu público não passa de um estético jogo de pura sedução, um flerte, um namoro, uma paquera literária que até pode virar um momentâneo affair ou paixão avassaladora, dessas que restam para todo o sempre. Sim, porque existem escritores que desafiam o tempo e mesmo depois de mortos, continuam a atrair leitores fiéis, jovens ou velhos, não importa. O bom escritor, aquele que entende do seu ofício, é que nem craque de futebol. Pode jogar mal, pode jogar bem, pode até perder um pênalti aos quarenta e cinco minutos do segundo tempo e ainda assim, a torcida inteira, comovidamente, o cobre de aplausos e de desculpas. No Brasil, infelizmente temos poucos desses tipos raros. João Ubaldo Ribeiro é um deles. Carlos Heitor Cony é outro.
E por falar em João Ubaldo, um dia desses, em horário mais do que impróprio, me telefonou um desses paulificantes turistas das letras às doze da matina e de um, imaginem, domingo. Só não o mandei para aquele lugar onde a senhora sua genitora o pariu, por um restinho de civilização. Tomado da mais intensa aporrinhação, passei a mão no Graham Bell como se sacasse um revólver. E o que desejava de forma tão urgente o referido chato de galochas? Ora, como sempre, me forçou a ouvir um novo conto seu durante duas horas seguidas e ainda teve a coragem de pedir a minha mais sincera opinião. E eu quase que a disse, mas me contive a tempo para evitar esticar a conversa. Além do mais, pra completar, o referido curioso do ato de escrever sentia-se profundamente decepcionado porque o João Ubaldo afirmou com todas as letras, numa entrevista, que só escrevia por dinheiro.
Logicamente, o chatíssimo escriba de fim de semana, como todo e qualquer amador, de folgadíssimo bolso que o permite financiar os seus próprios livrecos, tem a suprema coragem de espantar-se com o óbvio ululante, nu, pintado de vermelho berrante, de melancia ao pescoço bem no meio da Praça do Ferreira. Disse-lhe, então, porque paciência também tem limite, à queima-roupa, que eu também só escrevo por dinheiro, pois escrever trata-se de um trabalho honesto e digno feito qualquer outro. Já faz muito tempo que não escrevo mais de graça, tirante um prefácio para os amigos e poema pra mulher bonita. O turista das letras, graças a Deus, cortou imediatamente o papo e eu desliguei o telefone o mais rápido possível e ainda o tirei do gancho.